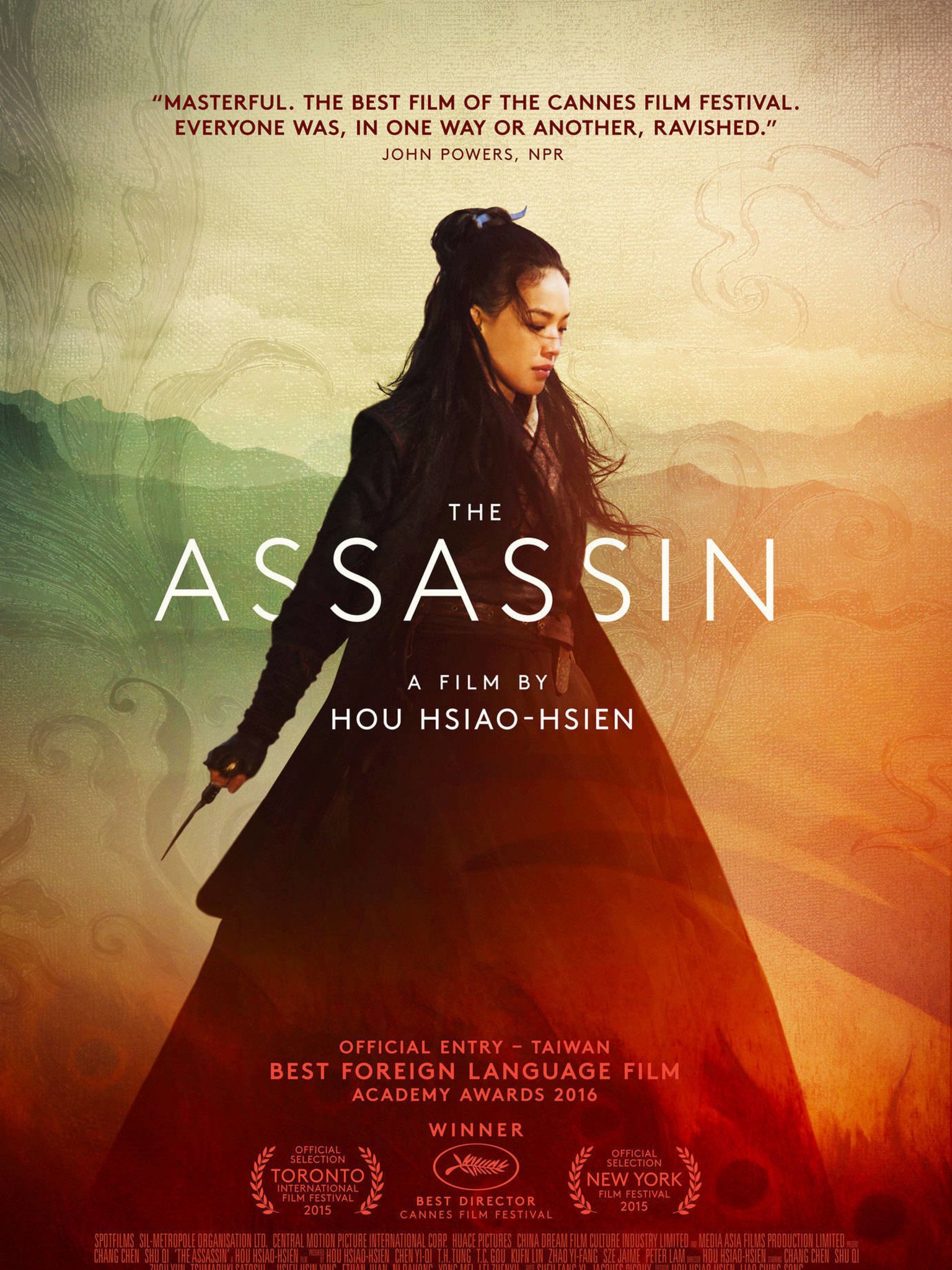Crítica | Hua Mulan

O longa Mulan – no original Hua Mulan – de Jingle Ma e Wei Dong começa com uma cena estranha, com um homem de cabelos longos e esvoaçantes, no alto de um acampamento militar, aproveitando a brisa que corre o cenário. Logo se percebe que aquele não é um lugar isolado, as lideranças chinesas são avisadas do infortúnio, e soldados chineses são flechados.
O cenário da China da antiguidade varia entre o melodrama da casa de Hua Mulan (interpretada por Wei Zhao), e o cenário dos servidores militares. As armaduras e os cenários de treinamento são muito bem feitos, transpiram fidelidade, e até por serem muito reais , não carregam o caráter épico do qual é conhecido o Mulan de Tony Bancroft e Barry Cook dos estúdios Disney. A lenda presente na Balada de Mulan é bem diferente das versões contadas no áudio visual, mas é difícil não estabelecer uma comparação com outra obra tão viva na memória.
Não há muita preparação sobre os preceitos trabalhados na jornada da mulher que se põe como um homem, especialmente no que toca o disfarce dela. Dá para se notar facilmente que é ali uma mulher, querer fazer acreditar que é um alistado e não uma alistada. Fora isso, incomoda também o tom melodramático do filme. Para uma historia que busca desconstruir mitos de sentimentalismo ligados ao gênero feminino, peca-se na tradução.
As batalhas não são mal coreografadas, de todos os momentos certamente são os que há mais esforço para parecerem reais. Irrita um bocado a utilização de Slow Motion, fruto talvez da popularização de 300 de Zack Snyder lançado três anos antes desse, mas em boa parte dos combates corpo a corpo, as armaduras não parecem meramente fantasias de Halloween. A fotografia de Tony Cheung também ajuda um pouco a compor o quadro bélico.
A historia é bem diferente do que se conhece no Ocidente, mas também não contem alguns dos elementos conhecidos do conto chinês, como a forte presença da família da personagem-título. Havia expectativa de que o longa tivesse um pouco da estética Wuxia, que permeou filmes como O Tigre e o Dragão, O Clãs das Adagas Voadoras e Herói, mas não houve essa influencia clara, ao menos não muito. Aparentemente há uma preocupação dos cineastas em ser palatável para o público dos Estados Unidos, embora sua linguagem não seja tão universal.
Jornada de doze anos de guerra, desejo de voltar para encontrar seus familiares se torna um bom mote para Mulan sobreviver, e esse talvez seja o aspecto mais semelhante entre esta obra e o filme animado. Apesar de pesar um pouco a mão no melodrama, Ma e Dong conseguem equilibrar bem o drama, apresentando uma historia de guerra e superação, que se vale dos clichês de maneira inteligente, embora não seja exatamente econômica.