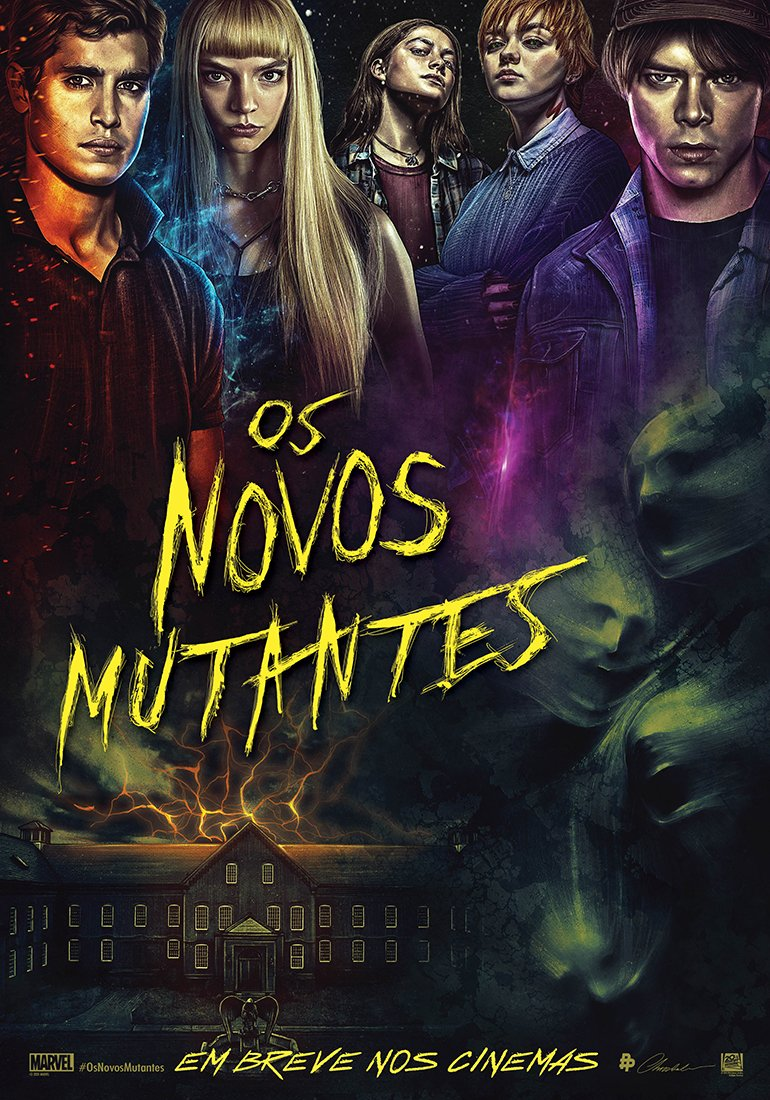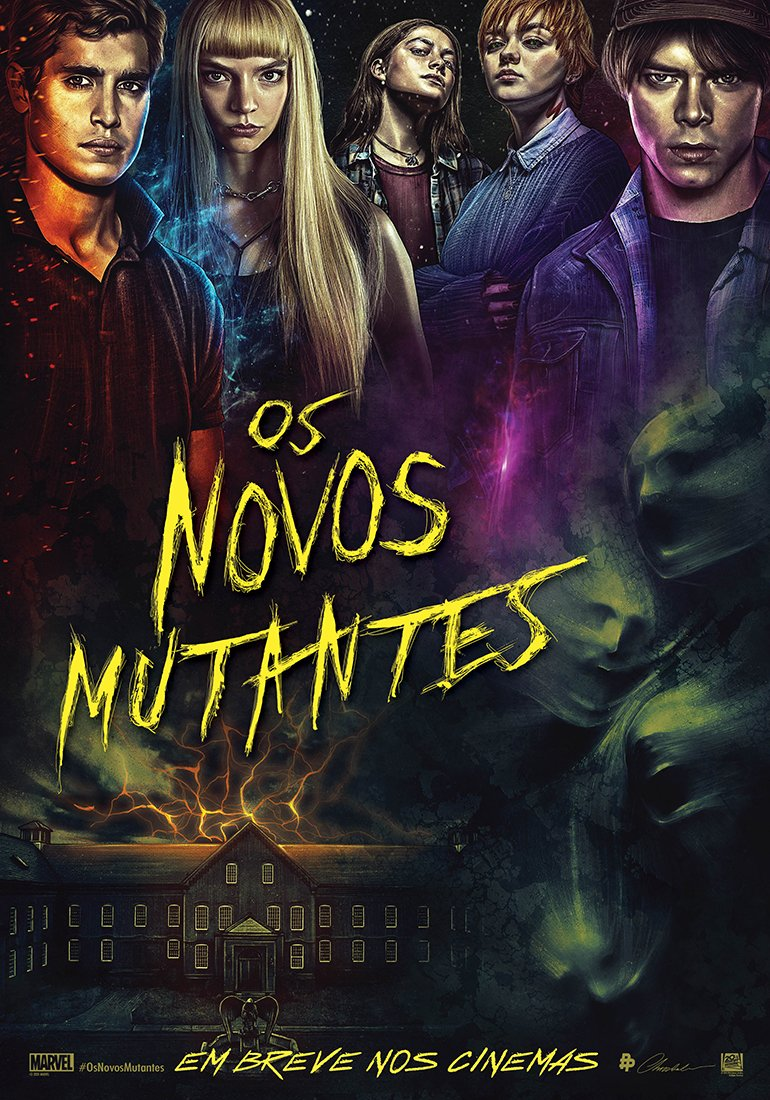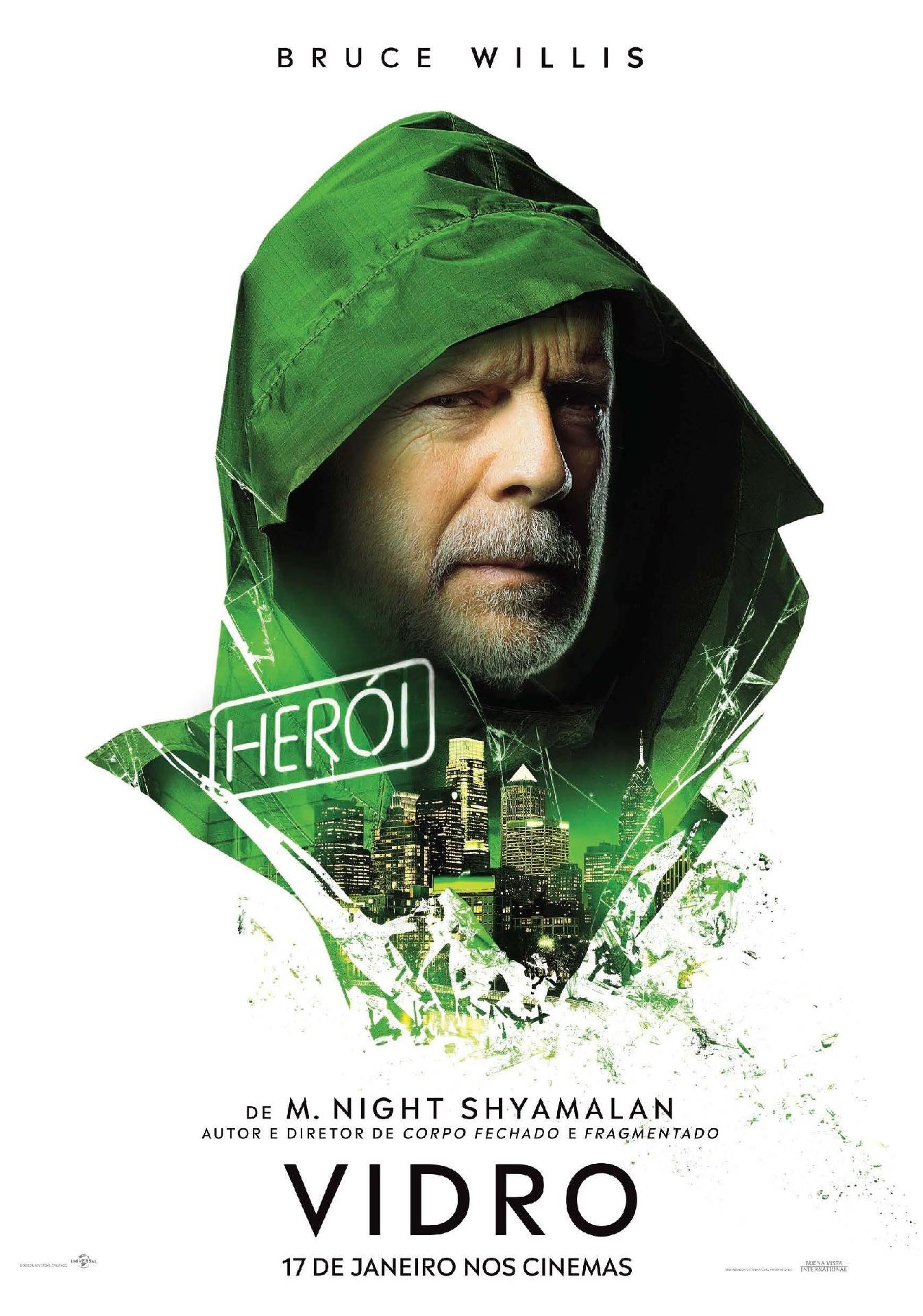Crítica | Noite Passada em Soho

Noite Passada em Soho é um thriller emocionante e emocional do diretor de Em Ritmo de Fuga. Seu começo é singelo, com a jovem Eloise/Ellie (Thomasin McKenzie) recebendo a notícia de que deixaria sua pequena cidade onde mora com a avó para sua mudança para Londres, estudar moda como sempre quis e sonhou.
O filme de Edgar Wright trata de traumas passados, problemas familiares graves e questões psíquicas. A protagonista é uma moça doce que carrega consigo a dor de ter perdido sua mãe de forma bastante trágica e traumática, vítima de suicídio praticado exatamente na capital da Inglaterra, fato que faz com que sua família se preocupe com a aspirante a estilista.
A personalidade e psique da menina são influenciadas pela falta dessa figura materna, e quando ela chega à metrópole tem atritos com outras estudantes fashionistas. Isso a faz querer se afastar, e é nessa ínterim que ela resolve se mudar dos dormitórios da faculdade, para um lugarzinho ermo, e lá ela passa a ver seus atos como os de Sandy (Anya Taylor-Joy), uma moça que sonhava em ser cantora dos anos 1960, justamente a época que Ellie mais amava.
Essas viagens no tempo podem fazer com que o espectador pense que esse é um filme irmão de Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, mas o resgate ao passado é um despiste. A história de Wright e Krysty Wilson-Cairns (de 1917 e Penny Dreadful) é bastante trágica, repleta de violência e abusos. Esses aspectos são desenrolados gradualmente, e o público é convidado a mergulhar em um abismo de tristeza e desesperança, fato que certamente pode causar desconforto em um público mais sensível.
Um fator curioso é como Wright insere Londres como uma personagem. A cidade é o lar de tragédias cotidianas e corriqueiras, um lugar onde mortes literais (ou não) ocorrem o tempo inteiro. De certa forma, toda grande cidade é assim, e essa campanha de apagamento da romantização de lugares turísticos (bem como de épocas) é alcançada à perfeição, por mais que o ponto de partida seja exatamente nesta obra.
Que Taylor-Joy é uma excelente atriz não é novidade. A Bruxa mesmo demonstra isso, mas Wright dá a ela oportunidade de mostrar uma face até então desconhecida. Seu trabalho engloba o de uma pin-up praticamente irrepreensível. O arquétipo de moça em perigo também é aludido e perfeitamente encaixado, sua personagem tal qual é Ellie, tem complexidade e apesar dos seus sonhos artísticos em soltar a voz, a moça passa boa parte de sua participação em silêncio, se comunicando por sussurros e gritos contidos que passam a ser cada vez mais frequentes à medida que vê seus sonhos ruírem.
Wright é afiado na direção, condução e roteiro. Não tem receio em colocar o dedo na ferida, e ainda denuncia questões controversas no cenário artístico mainstream, e faz isso sem concessões, subestimar o público ou qualquer olhar moralista para os atos condenáveis das suas personagens.
O final do filme poderia soar piegas e clichê, mas ao contrário, ratifica as coincidências de sentido e sentimento entre Ellie e Sandy. McKenzie e Taylor-Joy formam um dueto incrível, quase simbiótico e essa sem dúvida é a maior riqueza de Noite Passada em Soho. O longo usa poucos atalhos narrativos, não apela para conveniências de roteiro e acerta nos pequenos passos ousados que propõe, além disso, também possui toda a verve típica da filmografia de seu cineasta que parece amadurecer cada vez que se lança em novos projetos.