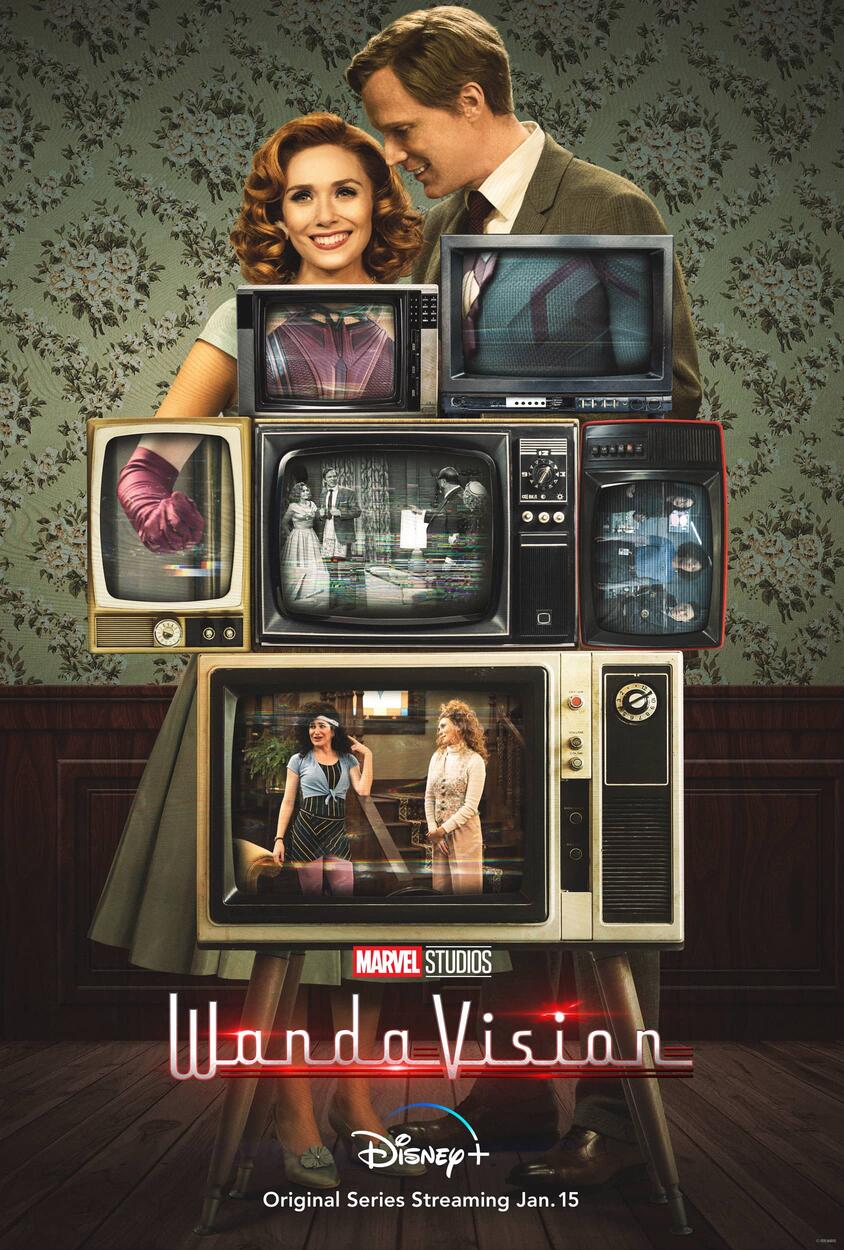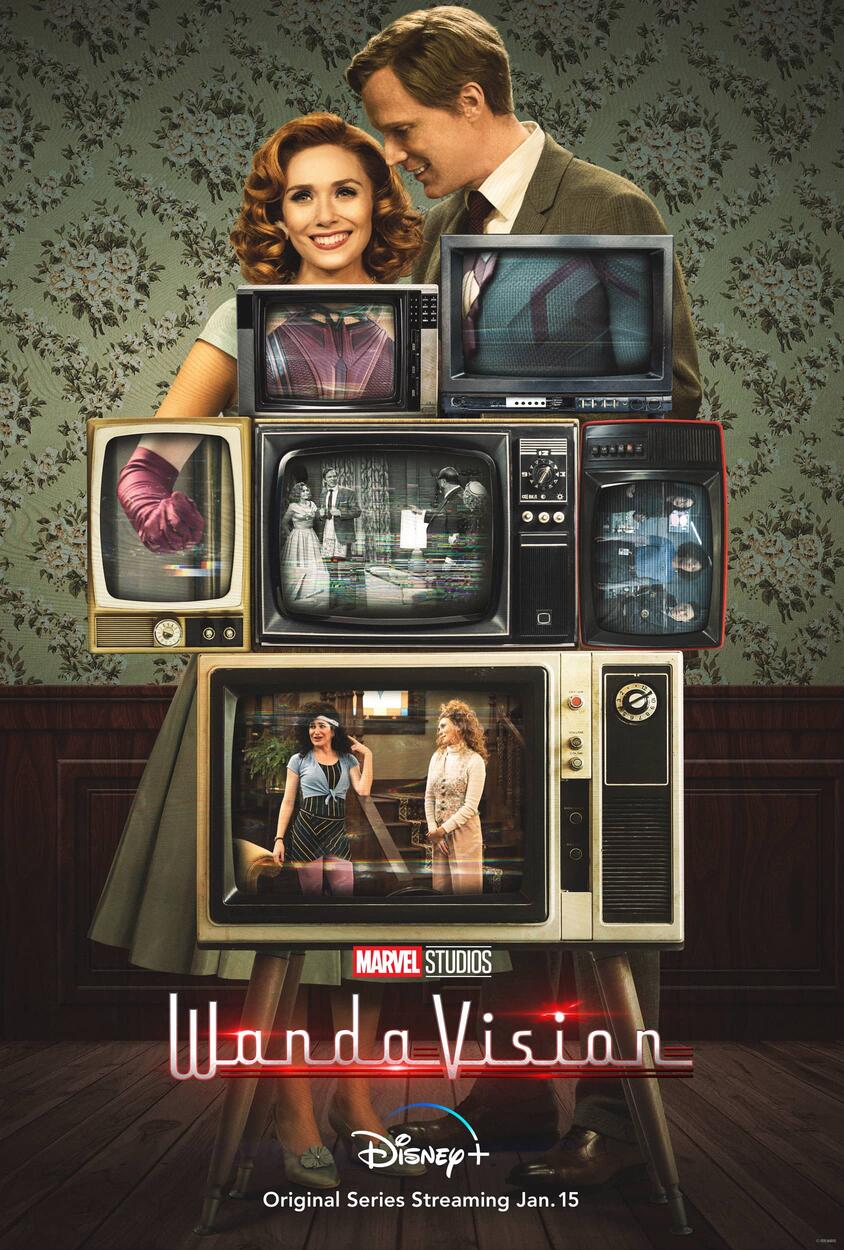Judd Apatow ficou conhecido nos anos 90 por fazer parte de uma geração de humoristas que dava muita vazão ao improviso. Depois de participar da produção de séries como Freaks and Geeks e Undeclared, ele se tornou diretor de cinema focado em comédias de costumes, e O Virgem de 40 Anos talvez seja a mais conhecida entre suas obras, que fala a respeito de Andy, um quarentão que tem a vida tranquila e cheia de hobbys, e que percebe que sua condição de celibatário nesta idade o faz ser completamente diferente dos demais colegas de trabalho lojistas.
A rotina de Andy consiste nele acordando sempre sozinho com uma ereção monstra, que não cessa sequer depois urinar. Sua casa é repleta de bonecos e action figures de séries e filmes nerds e até seus vizinhos o enxergam como um sujeito que precisa transar, mas a realidade que até o próprio protagonista é que sua vida não tem muito sentido além de ir trabalhar na loja Smarth Tech. Nesse cenário tudo é enfadonho e tende a se repetir, o show de Michael MacDonald que toca televisões grandes da loja, a convivência com o elenco de humoristas que hoje seria praticamente impossível de reunir – há Jane Lynch, Seth Rogen, Elizabeth Banks, Paul Rudd – e basicamente todos os seus colegas de trabalho tem só um sentimento por ele, que é o de ou desprezar ou ignorar ele, por ser tímido e diferente dos demais.
Há todo tipo de dementes sexuais em volta de Stitzer, David (Rudd) não consegue superar sua ex, Cal (Rogen) se enfia em qualquer relação amorosa escatológica e Jay (Romani Malco) trai sua parceira a todo tempo, e o trio o julga, achando que pode dar dicas de vida para ele, doutrinando o sujeito na estrada que seria a vida de um homem sexualmente ativo, e esses momentos garantem momentos bem engraçados, como o sentimento de epifania que cada um tem ao perceber o óbvio, mas também revela o quão infantil é o homem heterossexual, que medem sua masculinidade pela quantidade de mulheres com que transaram na vida.
É engraçado como o roteiro de Apatow e Steve Carrell perverte suas próprias regras, utilizando a masculinidade frágil, seus clichês e defeitos para desconstruir a visão das pessoas sobre os nerds (o ano era 2004, bem longe da alcunha soar cool como soa hoje), assim como mostra um sujeito tão sensível e respeitador que não consegue se aproximar do belo sexo. Todos os outros homens são mostrados como mesquinhos e escrotos, e os próprios verbalizam que Andy ter guardado sua essência pode ter sido algo bom.
A comédia serve bem a Carrell desenvolver seu humor físico. Aquela altura, ele estava terminando a primeira temporada de The Office, e seu papel aqui é bem diferente de Michael Scott, embora ele também tenha um sem número de inseguranças, e lide muito mal com as mulheres. Incrivelmente ela não culpa as moças, tal qual a maioria dos celibatários fazem, isso já o faz distinguir da maioria do comportamento agressivo dos Incels, mas ele claramente tem problemas sérios.
Mesmo sendo arisco e pouco afeito a relações, dois fatores sobressaem no modo de pensar do protagonista, sendo o primeiro o fato de apesar dele fugir da normalidade a condição de homem normal o enoja,em especial no fato da maioria dos caras tratarem as mulheres como meros objetos, ele é diferente dos machões trogloditas que se divertem quebrando lâmpadas fosforescentes por prazer. Ele não exalar barbarismo, e isso inflige o segundo fator, ele não sente pena de si mesmo, e isso é inédito entre praticamente todos os homens em tela. Os momentos que ele se vê como o errado, são induzidos por seus novos amigos.
A necessidade de aceitação que Andy sofre o faz cair em momentos absurdos, como quando ele vai se depilar em uma casa coreana, onde ele pragueja contra todos, ou ele agindo como um robô xavecador que faz a personagem de Elizabeth Banks se interessar por ele, onde ele não fala e não age como um ser humano de carne e osso, tal qual a própria Beth, que também é uma caricatura de mulher. Ao mesmo tempo que isso ocorre, ele consegue ser patético e romântico ao ponto de encher o quarto de velas, virar os bonecos e retratos ao ligar uma fita de filme pornográfico, ao som de Hello de Lionel Ritchie.
Aos poucos se percebe que a vida dos amigos supostamente mais maduros de Andy é triste, um é stalker, outro mente descaradamente para todos os conhecidos, outro não sabe lidar com sua orientação sexual, que é bissexual, aliás, todos os três funcionários da Smart Tech tem problemas em lidar com homossexualidade, e ficam fazendo piada com isso o tempo todo, mostrando que a base da sua sexualidade era insegura, Andy provoca nas pessoas uma memória, sobre suas primeiras experiências sexuais, elas são sinceras até demais consigo, mas ele não consegue ser com Trish (Catherine Keener).
Os momentos mais ricos, irônicos e engraçados moram nas piadas de situações de suposto cotidiano, como quando Trish e Marla (Kat Dennings) discutem asperamente sobre sexo, uma vez que a filha mais nova quer fazer sexo, mas é impedida por ela. Toda a sequencia na casa da mulher e depois numa clínica de controle de natalidade é absurdamente engraçada, e mostra que a maioria absoluta dos homens mede sua força e poder pela extensão de seus pênis, e como e quando são usados.
A única vez que Andy age como um sujeito ruim ocorre quando se sente confrontado por sua parceira, que vê o celibato como algo ruim e sente necessidade de tornar física a relação. Por mais clichê que isso seja e por mais que se apele para algo básico das comédias sexuais, sua reação é esperada, ele sem ter experiência age como se estivessem tentando extinguir o seu estilo de vida, agindo de maneira preciosista e desnecessária ao extremo. O homem volta a estágio mais básico, imaturo e irracional de sua existência.
Evidente que ele dá vazão no final a mais piadas adolescentes, como transas de apenas um minuto, e o homem deixando a mulher estafada por ter muita energia retida enquanto ela é uma pessoa comum de meia idade. O Virgem de 40 Anos assume todo seu caráter satírico, ao mostrar os personagens cantando Age of Aquarius, como em um musical da Broadway como parte de um rito de passagem para os homens e mulheres, e por mais que seja uma comédia boba, há muito conteúdo de discussão, sem soar panfletaria ou ligada a movimentações de justice warriors, e esse é um filme muito mais aclamado por parecer um besteirol, ainda que seja uma total desconstrução disso tudo.