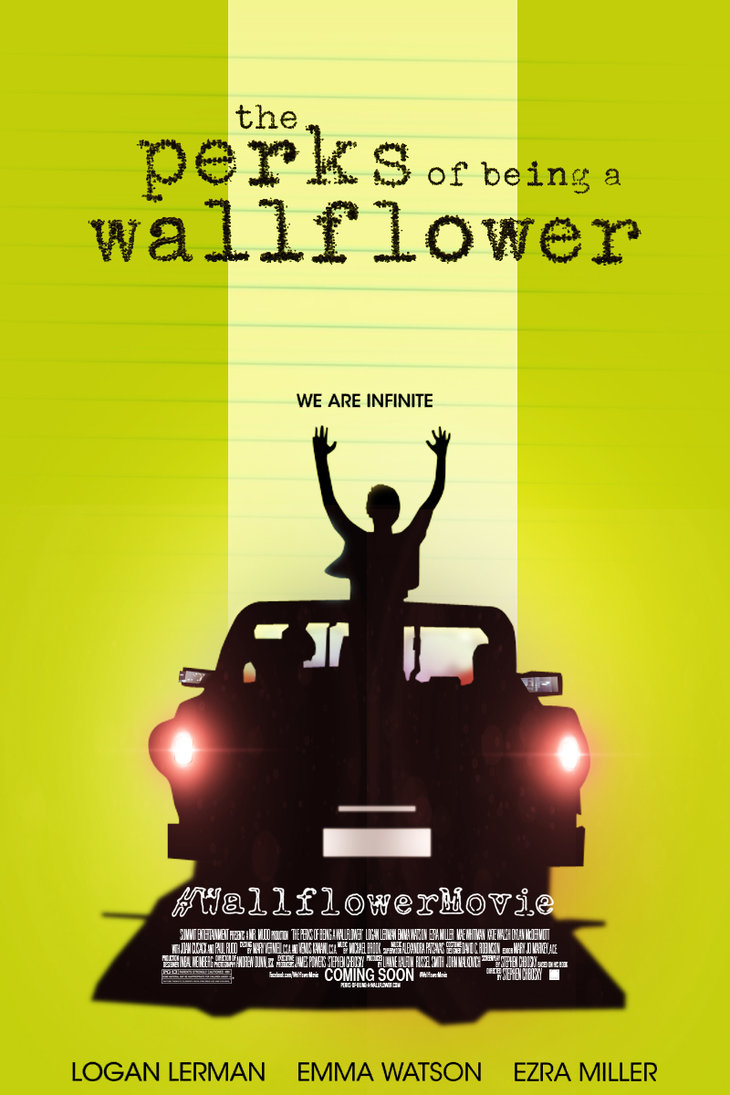Crítica | Indignação

Do que se trata isso tudo?, perguntou o jovem judeu Marcus Messner, personagem muito bem defendida pelo ator Logan Lerman (Percy Jackson), a seus pais. Estamos no ano de 1951 em meio a Guerra da Coreia. Marcus sofre com a superproteção de seus pais; o medo de perder o filho para a guerra é uma constante. A saída encontrada pelo jovem foi o ingresso numa Universidade em outra cidade. Não consigo mais aguentar. Não consigo. Graças a deus vou embora, completou Marcus. Mal sabia ele que esse era o início da maior indignação de sua vida.
Chegando ao alojamento da Universidade, Marcus começa a se deparar com o forte antissemitismo presente naquele universo acadêmico. Um de seus companheiros de quarto ironiza: “Que coincidência, três judeus num mesmo quarto!”. E esta temática será ainda melhor desenvolvida através dos excelentes diálogos que o jovem Marcus terá com o reitor Dean Caudwell, desempenho brilhante do ator Tracy Letts. Mesmo ele se indignando e não aceitando o antissemitismo sofrido por ser ateu, Marcus travará grandes embates em sua jornada com argumentos para defender suas raízes e pensamentos e combater o conservadorismo dos membros da Universidade.
Se de início o seu intuito era apenas estudar, o que nos transparece com sua recusa em fazer parte de uma fraternidade de judeus ou mesmo continuar a praticar esportes, Marcus muda de ideia ao se encantar com a jovem Olivia Hutton. Mas esse encantamento começa a se dissolver quando o protagonista se choca com os modos libertários com que a jovem lida com sua vida sexual. Marcus não consegue conceber a ideia daquela exuberante garota se desprender da carapaça imposta socialmente de moça boa para casar para alçar voos independentes.
O que mais encanta neste filme é a atemporalidade com que essas duas personagens, Marcus e Olivia, são construídas. Um jovem que não suporta mais seguir um modelo de família judia imposto por seus pais; que tenta encontrar refúgio para seu ateísmo no mundo acadêmico, mas logo se vê imerso numa onda de conservadorismo que tenta condicioná-lo para uma outra direção. Uma jovem que sofre sanções sociais pelos membros da Universidade por ser sexualmente ativa antes do matrimônio; se apaixona por um jovem por acreditar em seu pensamento à frente do tempo durante as aulas, mas que também deixará que o machismo fale mais alto e não aceitará seu comportamento. São personagens facilmente encontradas em nossa fauna contemporânea.
Indignação marca a estreia do roteirista James Schamus na direção. Fiel colaborador dos maiores roteiros da cinegrafia do diretor taiwanês Ang Lee, Schamus acerta num roteiro introspectivo para dimensionar na tela a juventude norte-americana na década de 50. Se em algum momento a narrativa se mostra cansativa, é que no plano moral das personagens a história está tomando consistência para que o final seja tão bem preciso e delicado. Há tempos um filme não nos brindava com aquela deliciosa sensação de agora tudo faz sentido”momentos antes de subirem os créditos finais.
–
Texto de Autoria de Heitor Benjamin.