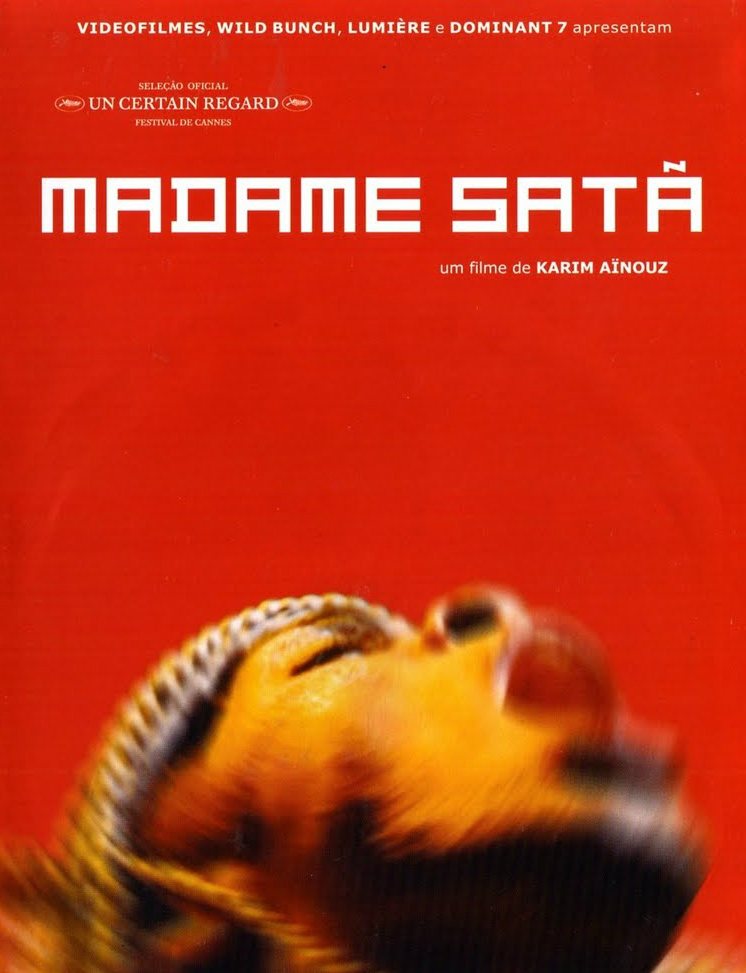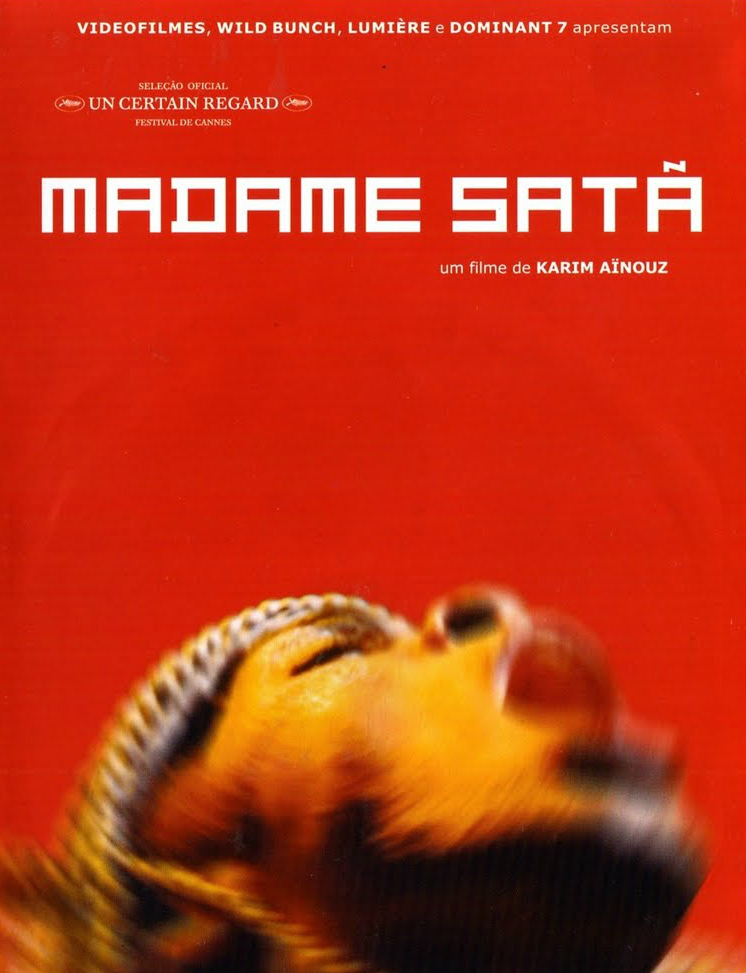Crítica | Aeroporto Central

Aeroporto Central é um documentário do diretor brasileiro e cearense Karim Aïnouz, seu início é intimista e minimalista, mostra pessoas adentrando o lugar que antes era o maior receptor de vôos do mundo, o Aeroporto de Berlim-Tempelhof, inaugurado nos anos vinte na Alemanha pelo presidente e ditador Adolf Hitler. Fechado desde 2008, o lugar ainda tem alguma importância, pois serve de abrigo e asilo para refugiados, além de ser um parque de lazer, onde crianças se divertem pelas pistas onde antes desciam aviões.
O primeiro personagem a falar é um jovem de 18 anos, Ibrahim Al Hussein. Sua confissões são breves, e se percebe um destino dele não esperado. A trama vai mostrando os meses dos refugiados nesse cenário não desejado, entre momentos de descontração e outros (tantos) de tensão.
A música instrumental ajuda a dar o tom do desapego estético imposto pelo realizador. Seu filme é seco, em alguns pontos abusa tanto do naturalismo que mais se assemelha ao cinema mudo do que o meramente documental moderno. As realidades mostradas ali são cruas, embaladas ou pelo silêncio ou pelo som ambiente, que de certa forma, emulam os milhares de vôos que aquele lugar já teve. O fato da maioria dos personagens biografados serem estrangeiros também maximiza essa sensação.
O filme acerta muito ao mostrar a precariedade da vida das pessoas que tiveram de largar suas terras de origem. O espaço que cabe as pessoas e famílias vivem em quartos improvisados, verdadeiros cubículos, divididos por lençóis ou por madeira. O espaço para eles é curto, e fora esses onde tem uma privacidade igualmente diminuta, há também muitos espaços comuns, onde as pessoas criam um senso de comunidade, embora até essa criação soe forçada em boa parte das vezes.
A maioria dos personagens que aparecem em tela não tem tempo o suficiente para serem identificados além dos dramas comuns a quem fica longe da família por muito tempo. Ao mesmo tempo que Karim Aïnouz apela para uma verdade fácil de ser identificada por qualquer pessoa no mundo, boa parte desses dramas não passa da barreira do genérico, e em se tratando de pessoas únicas e singulares, isso não é bom.
A duração extensa também faz com que o filme soe repetitivo, e ainda que isso não diminua a simpatia pelos personagens, boa parte da força de Aeroporto Central se dilui, mas que obviamente vale a pena conferir por conta do cenário dos desafortunados que já vivem em isolamento em uma época pré Covid 19.