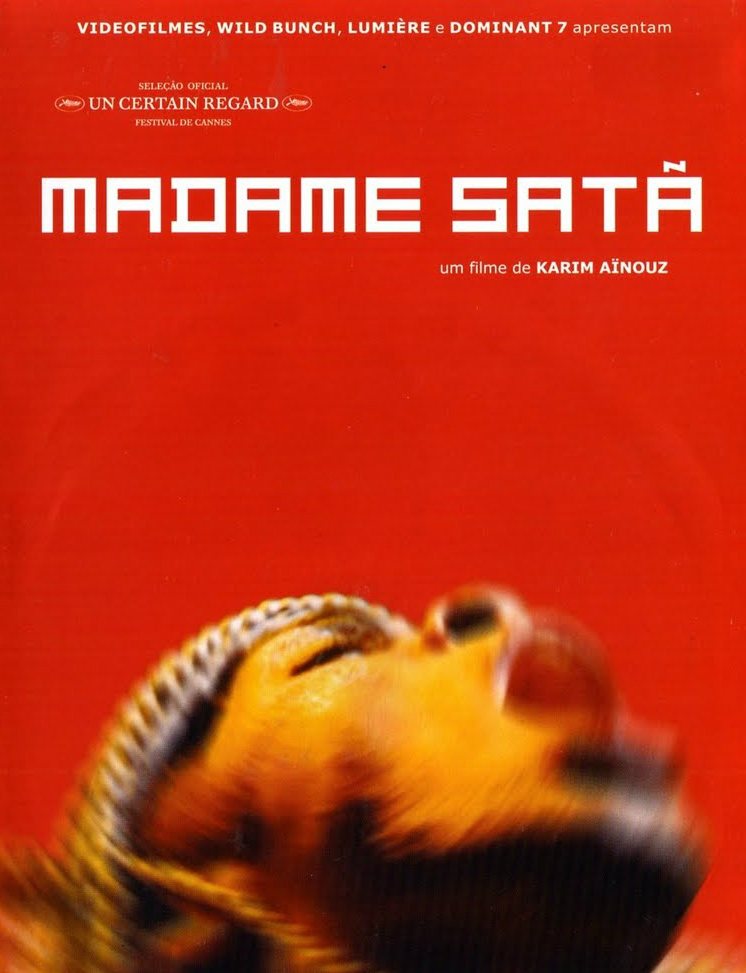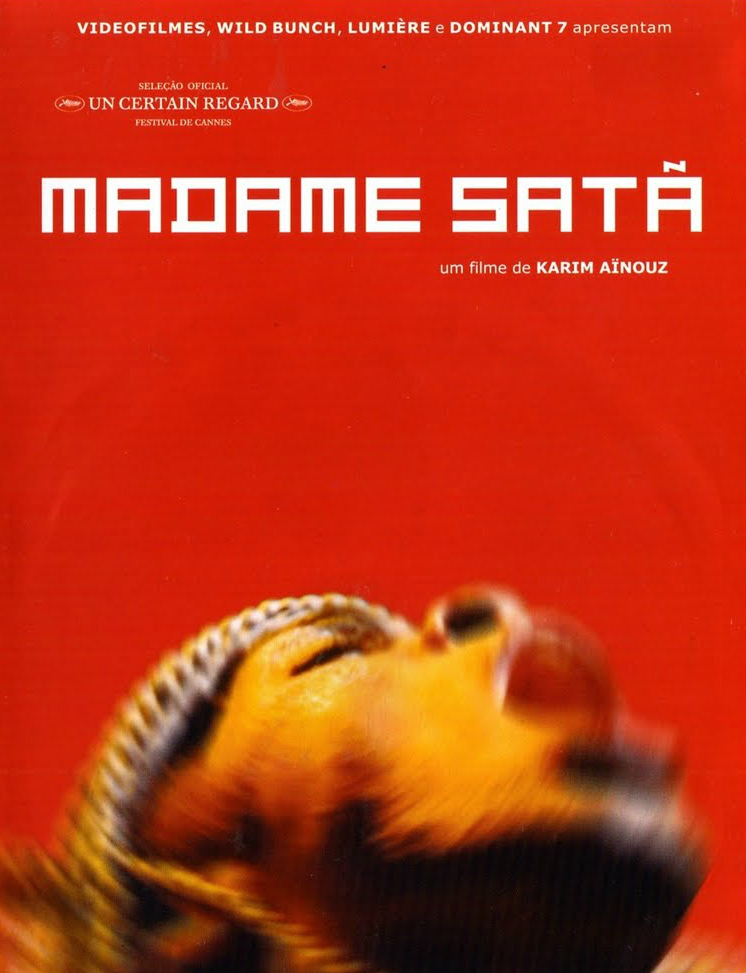Crítica | Mussum: Um Filme do Cacildis

Figura mítica do humor brasileiro, Antonio Carlos Bernardes Gomes, ou Carlinhos, é a figura principal do novo filme de Susanna Lira, Mussum – Um Filme do Cacildis, que por sua vez, começa através da música, do samba que ele praticava com sua antiga banda, Os Originais do Samba. A maioria dos primeiros entrevistados dizia que ele era um passista fabuloso e parecia talhado para o samba, e de fato, ele era, o que não o impediu de mostrar outras facetas de sua persona artística.
Mussum era humorista, aparentemente ele parecia ter nascido para fazer os outros rirem, e um dos maiores acertos que o filme poderia “cometer” é o deixar ele mesmo explicar quem ele era, mostrando sua trajetória por entrevistas suas, que servem como narração em off ou não de parte de seu passado. Alguns amigos do seu passado dão depoimento também, normalmente aparecendo com uma animação de tv antiga, um artificio meio bobo, mas que não chega a atrapalhar a compreensão da mensagem que o documentário quer passar.
Carlinhos tinha receio de entrar no morro, mas depois que foi pela primeira vez, virou sensação. Ele sempre destacou que sua criação o colocou no rum do sucesso, mesmo que a probabilidade de dar errado era enorme, mas ele passou por cima disso sem pensar. Boa parte das passagens da vida do biografado são animadas de modo divertido, com fotos antigas com uma animação bem primária, acompanhadas das palavras de Lázaro Ramos, e é nesse ínterim que se conta o aborrecimento ao ser chamado de Mussum pela primeira vez por Grande Otelo quando faziam um programa de televisão, e de Chico Anysio afirmando que ele deveria ir devagar com o dialeto que o sujeito inventou.
Também é curioso notar os elogios de gente gabaritada a respeito dos Originais do Samba, entre elas, Elis Regina, provando que não era essa “apenas” a banda do trapalhão. O filme trata com humor a árvore genealógica de Mussum, com o cúmulo de ter dois Antonio Carlos Junior, batizados assim por conta dele ter esquecido, mas os filhos jamais reclamaram de falta de amor e cuidado do pai. É uma pena que as entrevistas ocorram com o filtro animado já citado, pois em momentos onde a emoção prevalece, como a vez que um dos filhos de Mussum embarga a voz ao cantar uma música de seu pai chama mais atenção pela forma do que pela reação e conteúdo do mesmo. Ainda assim, sobra emoção do documento histórico que Lira conduz.
O filme também discorre sobre a questão racial e sobre as acusações de Os Trapalhões ser um programa racista, ao mesmo tempo em que ele era um dos poucos negros no horário nobre, um dos primeiros a fazer sucesso na televisão e a se tornar ícone. Em paralelo a isso, os filhos diziam que seu pai os ordenava a não levar desaforo para casa, além de ele também reagir na rua quando xingavam ele ou seus herdeiros por palavras racistas. Curiosamente nesse ponto há boas falas de Joel Zito Araújo, além de uma cena do filme Os Trapalhões no Auto da Compadecida, onde ele fazia Jesus e batia de frente com os preconceitos do povo. A escolha dessas falas dá um bom panorama sobre a postura do mesmo a respeito do preconceito racial. Mussum – Um Filme do Cacildis consegue atingir mais acertos que erros, e discorre de maneira bem singela e franca sobre a historia de seu biografado e melhor, sem soar enfadonho ou repetitivo, além de acrescentar bons momentos novos a biografia de Mussum como músico, humorista e como o ser humano admirável e digno de saudades que ele era.