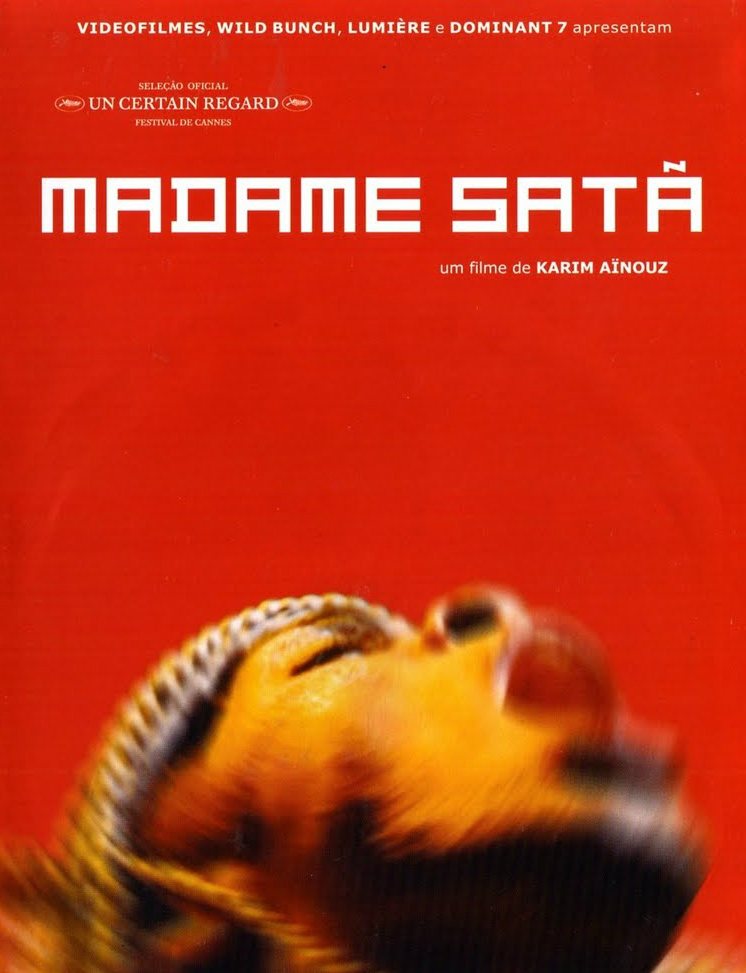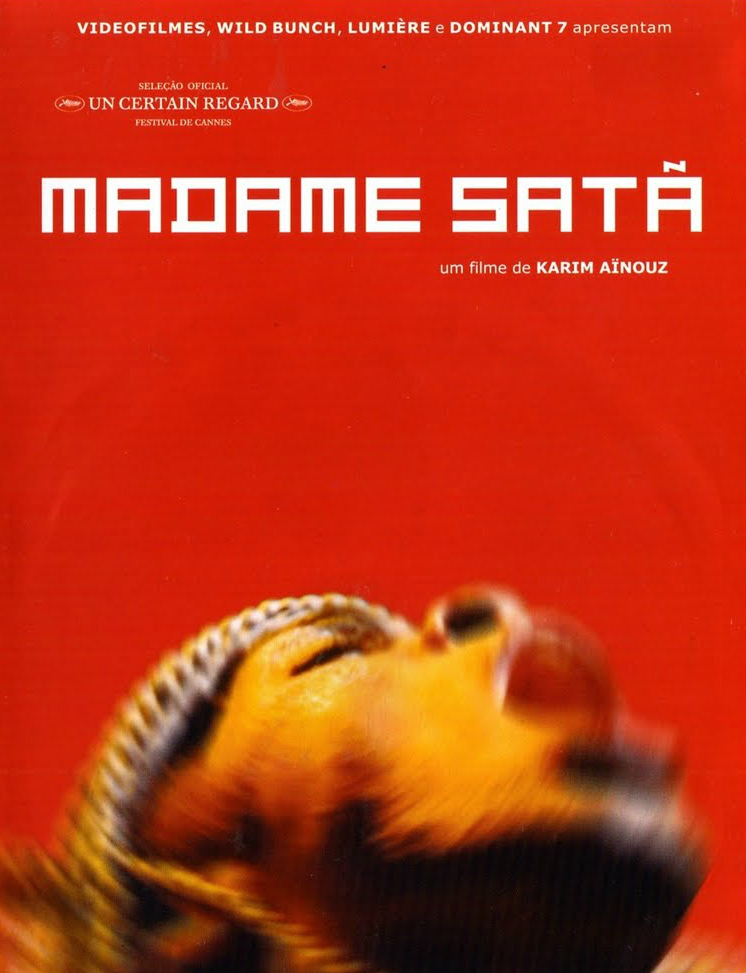Crítica | Homem Livre

O começo de Homem Livre é estranho. Helio (Armando Babaioff) chega em uma casa escondido no porta malas, e é levado para dentro de um local escuro. Trata-se de uma igreja, um lugar que serve como reabilitação, onde ele passa os dias refletindo sobre a Bíblia a fim de esquecer um pouco sobre seu passado. Ele foi um roqueiro famoso, mas passou muito tempo na cadeia, e ouve do Pastor Gileno Maia (Flavio Bauraqui), um homem muito solícito e atencioso, tão munido dessas duas características que soa até falso. Helio está o tempo inteiro tenso. Parece preocupado com algo, assombrado por um som estranho, mas que não revela sua origem. Entre os terrores noturnos, ele vê a imagem de uma mulher estranha e fantasmagórica, que provavelmente tem relação com o crime que o levou a cumprir pena.
O personagem não tem muitos afazeres e o fato de não ter com o que ocupar o tempo faz aumentar a paranoia. É curioso como apesar do roteiro de Pedro Perazzo tratar com cinismo os ritos evangélicos, também leva em conta o ditado “cabeça vazia, oficina do diabo”. Eventos estranhos acontecem.
O filme de Alvaro Furloni tem todo um clima de suspense que parece ter um potencial grande, mas ao longo dos 81 minutos mesmo as paranoias do personagem parecem vazias tanto de razão e significado, quanto em perigo real. A relação que ele tem com a jovem Jamily (Thuany Andrade) carece completamente de química ou algo que o valha, e pouco se gera curiosidade nas causas da culpa de Helio assim como nas consequências dos seus atos pós-libertação do cárcere.
Apesar de subverter as expectativas, ao menos em um ponto Homem Livre acerta, que é na demonstração de como o homem pode ficar perdido e sem referencial, ainda mais depois de passar uma vivência traumática como normalmente se reclama ao falar do sistema penitenciário brasileiro, mas ainda assim, este comentário não encaixa tão bem com todo o resto do espírito do filme, que carece de um entendimento sobre o que realmente quer passar ao público.