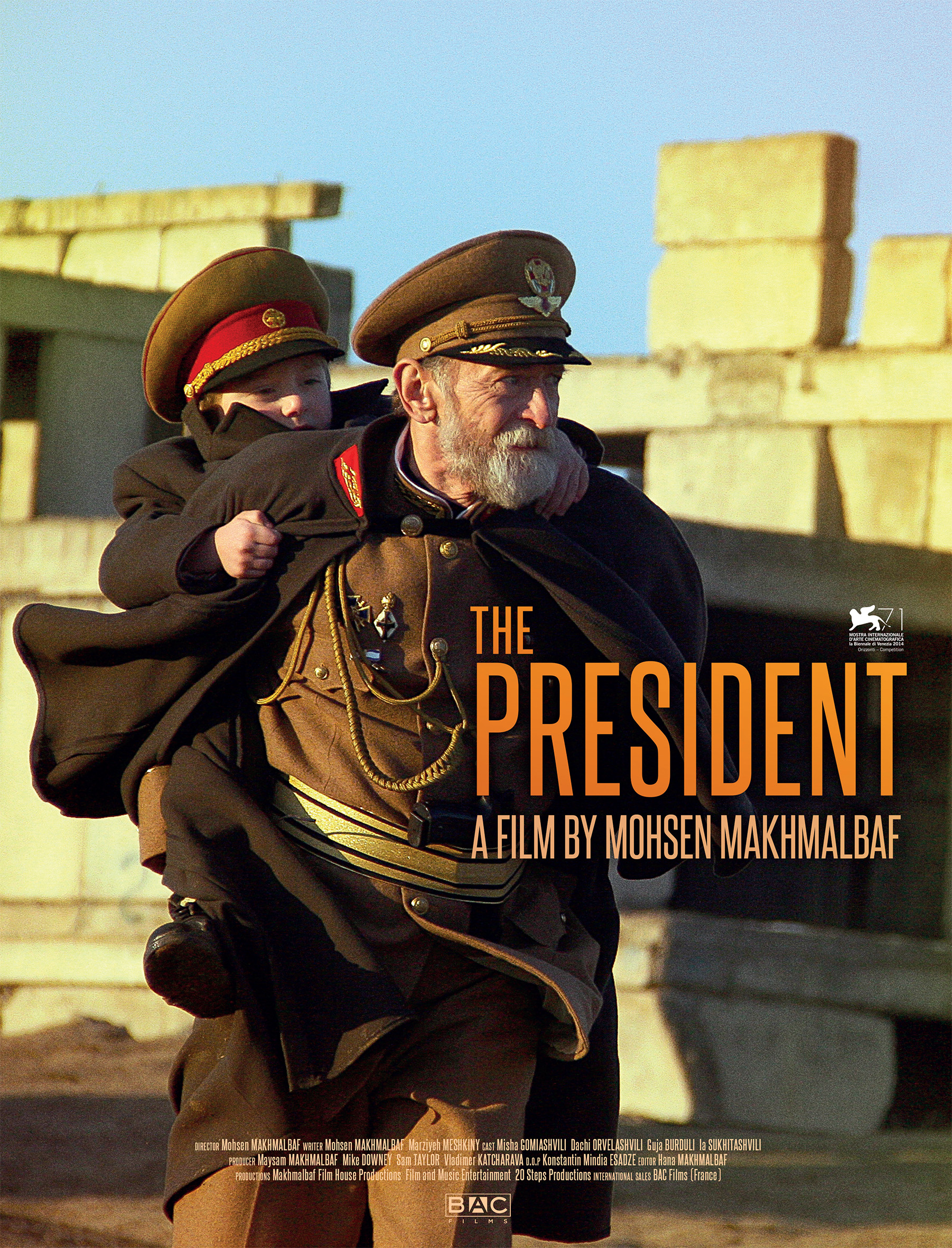Crítica | 3 Faces

Novo filme de Jafar Panahi (de Cortinas Fechadas e Isto Não é um Filme), 3 Faces começa com um vídeo amador e improvisado, mostrando a jovem Marziyeh Rezaei em desespero, ao ponto de tencionar tirar a própria vida. Mais uma vez o diretor denuncia de uma maneira criativa os abusos das autoridades do Irã, ao mostrar uma mulher punindo a si mesma, ainda que os motivos para isso não fiquem exatamente claros.
A história se desenvolve então no interior do Irã, e o próprio diretor é personagem, junto a famosa atriz Behnaz Jafari. Os dois no carro cruzam as estradas campestres discutindo os motivos que fizeram Marziyeh cometer o autoflagelo, e suspeitas são levantadas pela mulher a respeito da veracidade do vídeo.
O diretor mais uma vez registra as imagens de um carro, como em Taxi Teerã, um de seus filmes anteriores. Aqui, realidade e trama se confundem, em especial quando é discutido o paradeiro da menina que havia tirado a própria vida. Por conta da condição de perseguido, Panahi se vê obrigado a fazer cada vez mais um auto-cinema, reinventando sua linguagem e experimentando novas formas de trabalhar. O formato de 3 Faces certamente não é novo, mas a maneira super emocional e realista com quem o cineasta conduz tudo é de um mérito que poucos realizadores conseguem em sua carreira.
Apesar do início dramático, a investigação do caso em si feita por Jafar e Behnaz é bem leve, repleta de situações comuns e cômicas, mas ainda pautadas num pragmatismo que não faz o filme parecer irreal. As pontas soltas são amarradas pouco a pouco e o quadro apresentado no final é de um caráter completamente diferente do visto na gênese da obra. Panahi acerta muito ao conseguir tirar comicidade de situações tão complicadas como as abordadas em 3 Faces e consegue fazer isso sem tirar a importância dessas situações, falando de modo leve a respeito de coisas graves e mostrando um Irã que não é só tragédia e perseguição política, em um filme sentimental e até divertido em certa medida.
Facebook –Página e Grupo | Twitter| Instagram.



 O prédio está rachando e todos debandam de suas casas, esquecendo seus faustos para a retirada de seus parentes, tudo às pressas. Colocando na balança o valor humano da tragédia, e mais nada, percebe-se a fragilidade e o drama reais do ser, enquanto o Aquarius e suas janelas racham e o imbróglio anuncia o que, senão catástrofe? O casal Emad e Rana se abriga então num novo edifício, ciente do drama que por pouco escapara, mas inconsciente do que lhe espera, e não por obra novamente do destino, mas porque ninguém até hoje conseguiu responder a uma simples pergunta: Teria o ser-humano as rédeas que moldam nossa antropologia de antemão, ou sobretudo seriam os cenários e as suas regras impregnadas que moldam seus habitantes; quem vem primeiro?
O prédio está rachando e todos debandam de suas casas, esquecendo seus faustos para a retirada de seus parentes, tudo às pressas. Colocando na balança o valor humano da tragédia, e mais nada, percebe-se a fragilidade e o drama reais do ser, enquanto o Aquarius e suas janelas racham e o imbróglio anuncia o que, senão catástrofe? O casal Emad e Rana se abriga então num novo edifício, ciente do drama que por pouco escapara, mas inconsciente do que lhe espera, e não por obra novamente do destino, mas porque ninguém até hoje conseguiu responder a uma simples pergunta: Teria o ser-humano as rédeas que moldam nossa antropologia de antemão, ou sobretudo seriam os cenários e as suas regras impregnadas que moldam seus habitantes; quem vem primeiro?