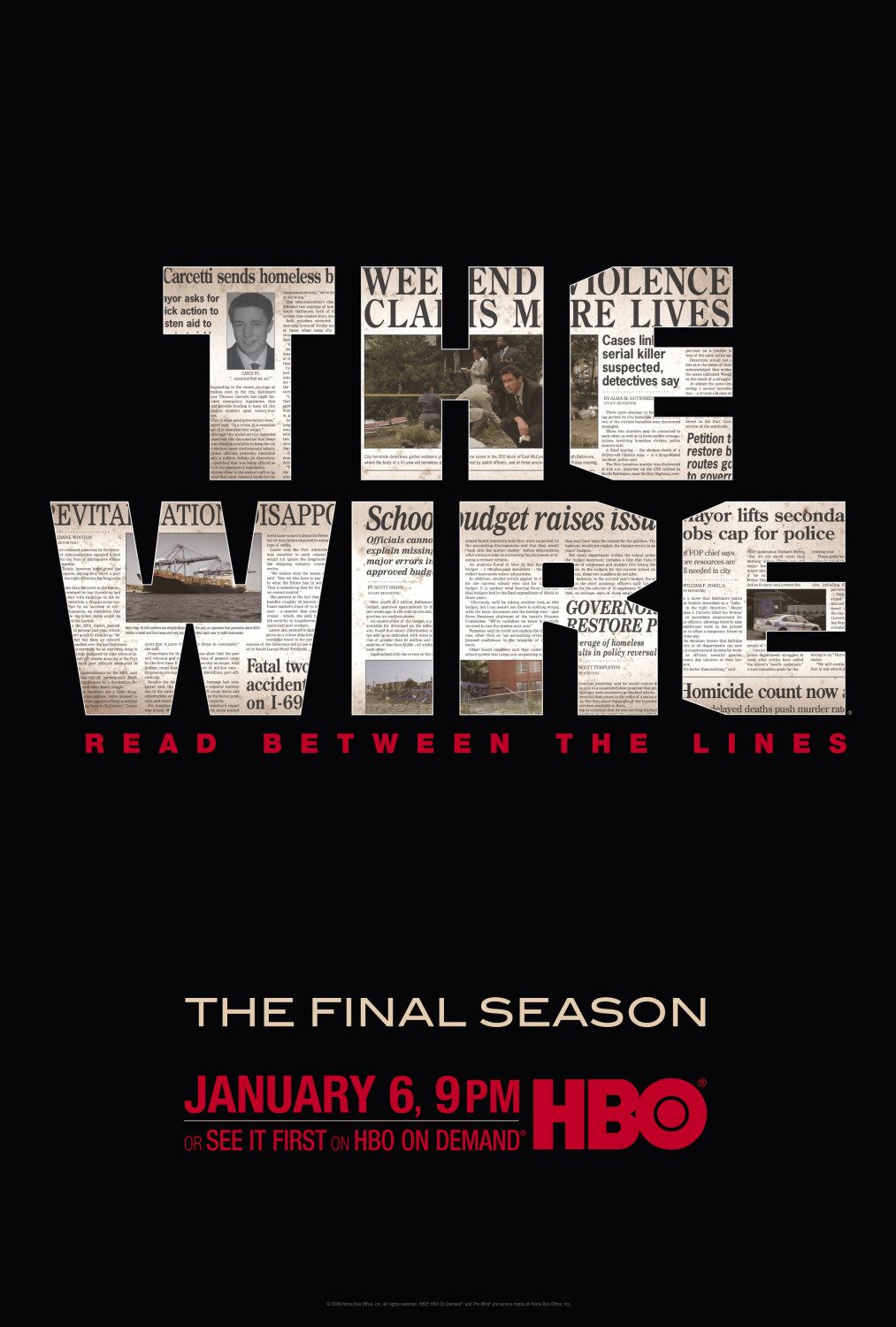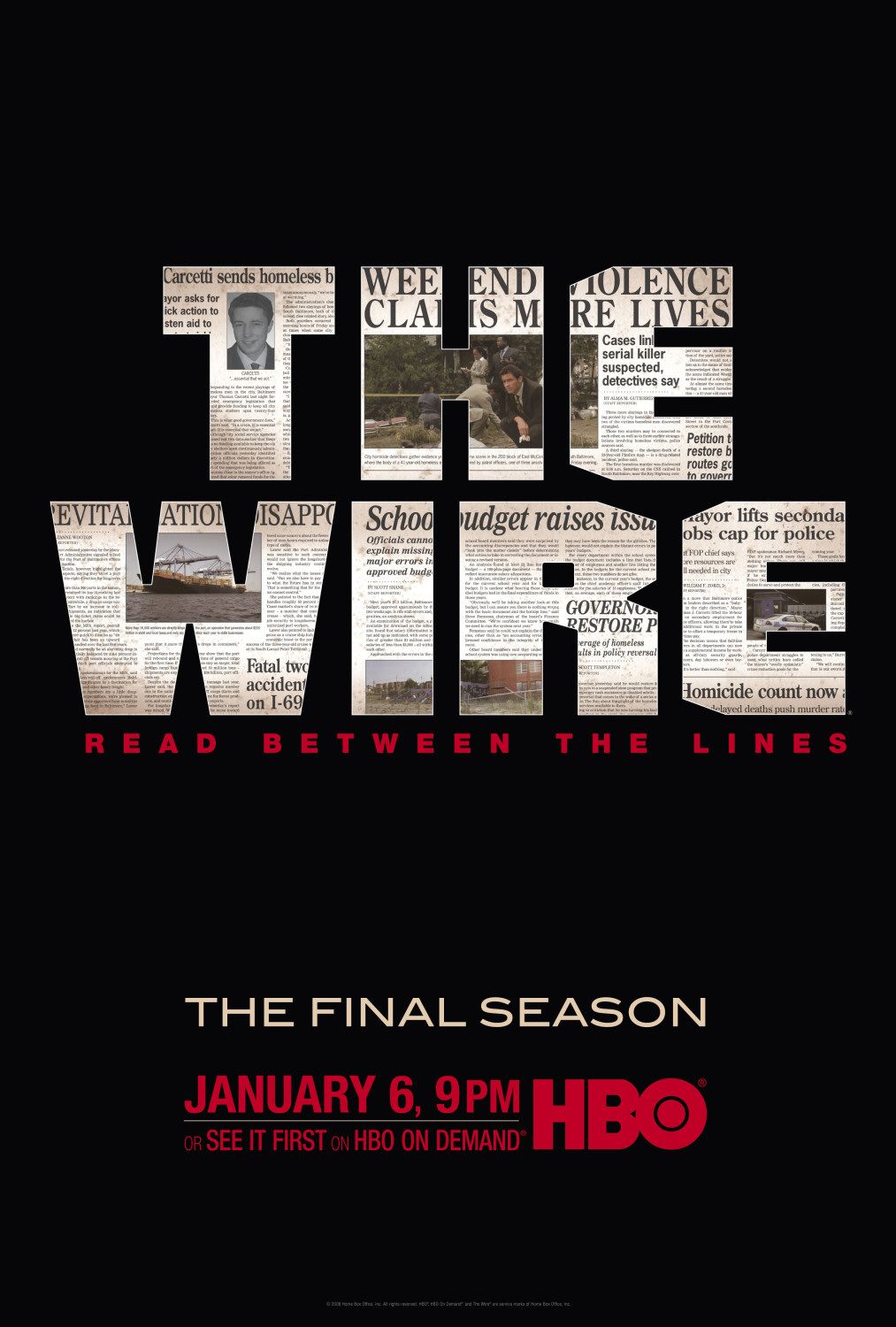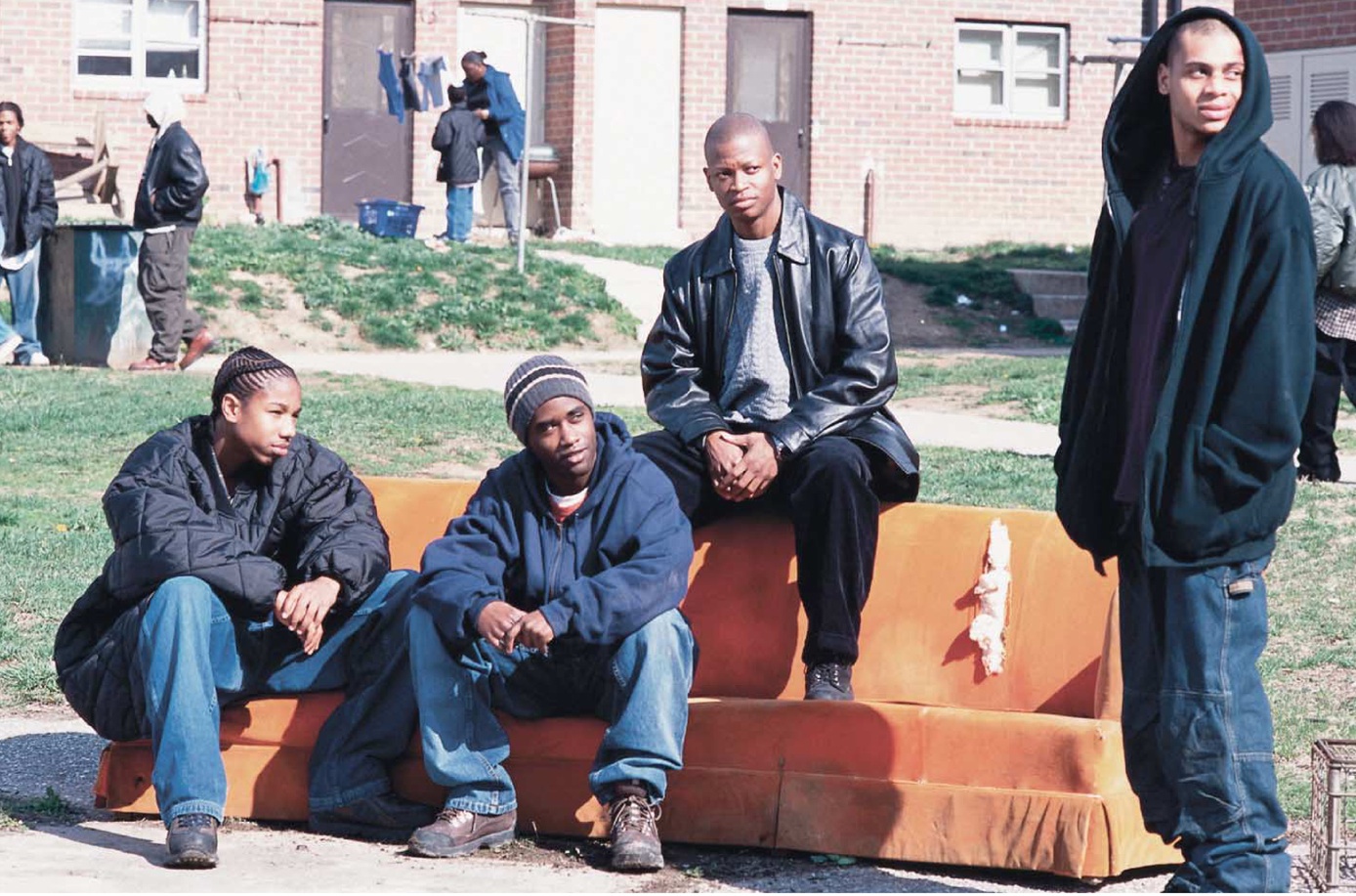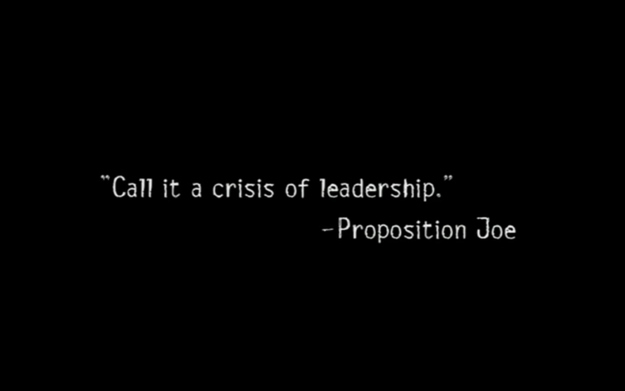Crítica | RoboCop (2014)
O cineasta holandês Paul Verhoeven marcou uma geração de jovens dos anos 90 com suas produções marcadas pela violência gráfica e distopias futuristas. Com três clássicos nas mãos (Robocop, Vingador do Futuro e Tropas Estelares), o diretor estabeleceu uma linguagem própria e uma base considerável de fãs mesmo dentro da crítica, mas não resistiu à modernização e ao crescimento da “caretice” de Hollywood no final da década. Tanto é que Verhoeven acabou voltando desiludido para a Holanda e lá produziu o excelente A Espiã e, o ainda não lançado no Brasil, Steekspel. Como já era de se esperar, a onda de remakes atingiu seu legado, e em 2012 foi refilmado O Vingador do Futuro, fracasso retumbante e totalmente esquecido pelo público.
Agora é a vez de Robocop, considerado por muitos seu melhor filme nos EUA. A MGM já tentou refazer o filme algumas vezes, mas não encontrava a pessoa certa. Após ver o sucesso dos dois Tropa de Elite, acabaram-se as dúvidas. A visão política e social de José Padilha, combinada a intensas cenas de guerra urbana das autoridades contra os “inimigos”, assemelhava-se bastante à proposta de Verhoeven. Logo, o brasileiro foi chamado para dirigir o projeto.
A história se passa em torno do incorruptível e incansável detetive Alex Murphy (Joel Kinnaman), que investiga, na cidade de Detroit, crimes que sobem cada vez mais na escala de poder. Após seu parceiro Jack Lewis (Michael K. Williams) ser baleado em uma operação, ele decide investigar sozinho a rede de corrupção da cidade, mas sofre um atentado que quase tira sua vida. Nisso entra a Omnicorp e o plano de trazer para o mercado doméstico a produção de soldados robôs com a função de proteger o país. O presidente da companhia, Raymond Sellars (Michael Keaton), empenha-se arduamente com a ajuda do apresentador de TV Pat Novak (Samuel L. Jackson). Assim, decidem transformar o moribundo Murphy em uma máquina, porém os planos da empresa não saem como planejados.
As comparações com a obra original serão inevitáveis, mas ao contrário dos remakes/reboots lançados atualmente no mercado, o novo Robocop possui história própria a ser contada de forma singular. Esse mérito podemos dar a Padilha, que não caiu na tentativa de recriar o filme de Verhoeven, tampouco de inovar completamente retirando a essência política da história. Porém, faltam ao remake a originalidade e a anarquia criativa do original justamente como sátira de um universo policialesco e anestesiado, sofrendo com a violência endêmica sem conseguir reagir dentro dos moldes de uma sociedade democrática. Dessa forma, Robocop surge como a união dos traços marcantes da modernidade: a automatização robótica e o discurso policial como salvador da pátria. E, neste aspecto, Padilha flerta timidamente com esses temas, sem causar nenhum tipo de reação ao espectador.
A Detroit do filme de 1987 era realmente suja, decadente e claramente violenta, em uma previsão profética do que se tornaria a cidade hoje. Porém, no remake ela é uma cidade moderna, com policiais honestos morando em bairros de classe média alta sem nenhuma preocupação. Nem de longe passa a imagem falada na história de que Detroit estava entregue à violência.
As inserções televisivas, e satirizadas ao extremo pelo diretor do original, foram diminuídas em um único personagem, Pat Novak, apresentador de algo como um programa da Fox News, ou mesmo um Datena ou Cidade Alerta no Brasil. Reacionarismo e discurso da ordem através da violência contaminando o debate, mas que não causam nenhum efeito além de informar friamente o espectador. A TV possui esse único papel: o jornalismo-marrom. Não vemos nenhuma propaganda contra a radiação solar ou programas de humor com bordões ridículos que pareciam entreter a todos, elementos que marcaram o tom humorístico televisivo de 1987, ausência essa que transparece sisudez.
Os acertos do filme se dão pela visão política interna e global, que provavelmente teve o dedo de Padilha. A questão não é somente a segurança interna de uma cidade dos EUA, e sim como o império já se alastrou pelo mundo e os robôs e drones são usados pela máquina militar a fim de estabelecer seu poder, como mostra a cena inicial em Teerã, na qual um ED-209 executa um garoto. Também é interessante o papel da China na história. Murphy é transformado no Robocop em uma linha de montagem na Ásia, e quando foge, sai em uma linha de produção tão automatizada quanto ele, lembrando as fábricas da Samsung, Apple e outras multinacionais. Definitivamente, os EUA deixaram de concentrar todo o poderio industrial do planeta. Porém, isso poderia ter uma contradição, já que o crescimento econômico da China é acompanhado de crescimento político, e nesse contexto talvez uma invasão ao Irã não aconteceria ali tão perto dos chineses.
O papel da família de Murphy também se tornou muito maior no remake. Enquanto no original sua família era uma simples lembrança distante, agora sua esposa, Clara Murphy (Abbie Cornish), possui participação ativa, na tentativa de humanizar o personagem. O que faria sentido se seu papel não fosse cada vez mais diminuído conforme o filme avança, até chegar a uma cena final um tanto quanto embaraçosa no heliporto. Seu filho então é praticamente um poste. Até o ator mirim de Homem de Ferro 3 foi mais importante.
Também é menos impactante a figura do vilão. Enquanto Kurtwood Smith dá vida ao impressionante e odiável Clarence Boddicker, em cuja cena da morte de Murphy traumatizou uma geração de crianças, Antoine Vallon (Patrick Garrow) não cativa em momento algum, servindo somente para ser morto no final em estéril cena de tiroteio que causou um pouco de vertigem, tamanha velocidade e quantidade de cortes. Toda a gangue de Boddicker era marcante, enquanto a gangue de Vallon é representada somente por dois policias corruptos, personagens também unidimensionais e sem graça. Também é difícil estabelecer uma violência tão grande em um filme PG-13, a praga do cinema moderno, em que todos os filmes precisam ser “para a família”.
Como era de se esperar, as cenas de ação do Robocop moderno não suportariam mais aquela velocidade lenta da década de 80, e o protagonista consegue pular e saltar a fim de cumprir objetivos, em cenas bem realizadas e que não incomodam, como era o medo de muita gente. Apesar de ser boa, a estética de videogame e FPS incomoda um pouco não só pela filmagem, mas também pela falta de uma ameaça realmente importante ao espectador. A cena de luta com os ED-209 foi bem feita, e 9 entre 10 espectadores esperaram uma referência ao fato de ED não conseguir descer escadas, o que infelizmente não ocorreu. A referência maior ficou na aparência do protagonista, com traços que lembram a “armadura” original, inclusive seu tom de cinza, que a deixou muito bonita. Depois transformada em preta, perde um pouco esse charme, lembrando mais os soldados do BOPE e a temática de “policialização” do debate político.
Como elemento em desarmonia, a trilha sonora original, composta por Basil Poledouris, foi repaginada e usada em alguns momentos estranhos, não encaixando neles muito bem. As músicas de cenas de ação e principalmente dos créditos finais tampouco soaram como complemento ao filme, parecendo mais com o restante da produção, dando uma sensação de “faz sentido, mas tem algo errado aqui”.
A ciência também possui um papel maior no filme de 2014. Explicações técnicas do cientista responsável pelo projeto, Dennett Norton (Gary Oldman), estão sempre presentes, seja em cena, seja em narração, o que se torna algo desnecessário. Também há a boa e velha ciência hollywoodiana com seus termos do tipo “queimadura de 4º grau em 80% do corpo” e “ele está sobrescrevendo as prioridades do sistema”, sempre usadas para justificar uma guinada fácil no roteiro. Como quando Murphy, inexplicavelmente, passa a sentir emoções novamente mesmo quando essa capacidade foi biologicamente retirada. O detalhe da mão humana também é complicado: apesar de eficiente dramaticamente, pois deixa Murphy ainda com toque humano, torna todo o projeto do robô mais difícil, afinal, basta uma queda da moto em alta velocidade, um pisão de ED-209 ou simplesmente um tiro para incapacitar sua mão.
Robocop (2014) é um bom filme, mas possui os defeitos clássicos do cinema moderno: excesso de explicação, violência sem peso dramático, resoluções fáceis e rápidas e personagens unidimensionais. A impressão presente no final da projeção é que vimos um filme inteiro como robôs “com 2% dopamina” no sangue. A produção tem seus méritos e consegue trazer novos debates, mas sem brilho e empatia. Não será esquecido como o remake de O Vingador do Futuro, mas tampouco figurará entre os clássicos do gênero. Que sirva ao menos para Padilha conseguir se estabelecer no mercado norte-americano e produzir obras melhores por lá.
–
Texto de autoria de Fábio Z. Candioto.