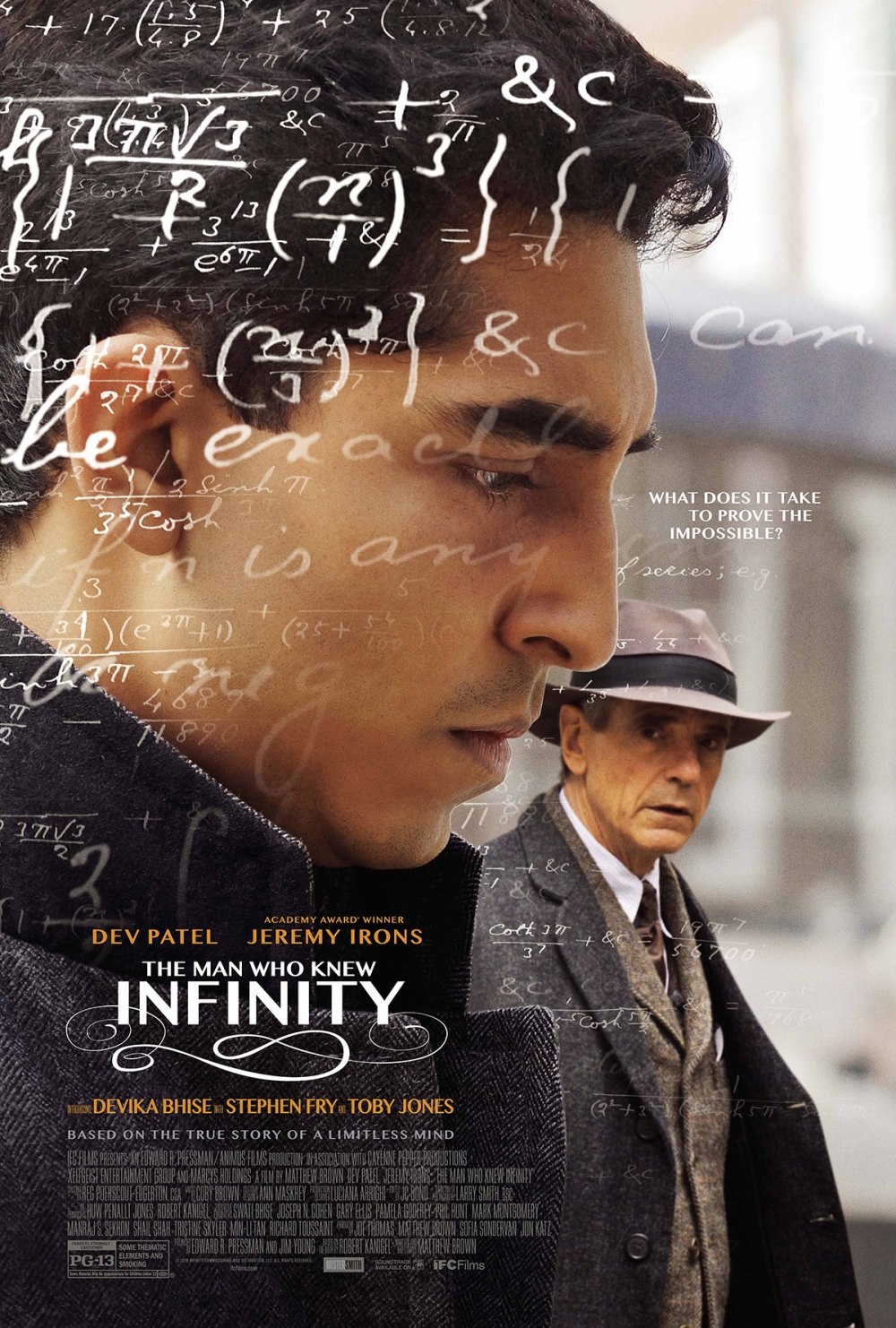Crítica | Amor & Amizade
 Aparentemente leve e fácil, Amor & Amizade (Love & Friendship) é um filme bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí, tanto pelo seu cinismo quanto pela impressão que ele pode causar após os créditos finais. Não é uma produção que é fácil rotular como boa ou ruim, vai bem além disso, e ir além é a principal característica desse longa escrito e dirigido por Whit Stillman.
Aparentemente leve e fácil, Amor & Amizade (Love & Friendship) é um filme bem diferente do que estamos acostumados a ver por aí, tanto pelo seu cinismo quanto pela impressão que ele pode causar após os créditos finais. Não é uma produção que é fácil rotular como boa ou ruim, vai bem além disso, e ir além é a principal característica desse longa escrito e dirigido por Whit Stillman.
A história é baseada no livro Lady Susan, de Jane Austen, no qual acompanhamos Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale), uma recém viúva que enquanto é alvo de fofocas sobre seu comportamento duvidoso decide passar um tempo na casa de conhecidos para conseguir um marido para sua filha e talvez para si mesma. Kate finalmente deixa de lado a já desgastada imagem causada pela franquia Anjos da Noite e o remake de O Vingador do Futuro, e abraça maravilhosamente bem sua personagem Lady Susan que carrega o filme nas costas com seus diálogos rápidos, diretos e carregados de um cinismo tão requintado que a atriz parece um anjo, mesmo soltando os piores venenos.
Longe de ser igual as personagens femininas do cinema retratadas no século XVIII, Susan é tridimensional e carregada de personalidade, tanto é que se pode tentar enxergá-la como vilã, mas não impedirá de também vê-la como heroína desta história que usufrui da “amizade” do título de forma tão particular. Numa trama calma e de diálogos afiados, Amor & Amizade brinca muito bem com as duas palavras que o nomeiam, ainda mais na época retratada, onde os casamentos eram arranjados e as amizades eram escolhidas por interesses; enquanto a personagem principal desperta o puro amor, ela consegue demasiadas coisas pela amizade social. É genial.
E além de ser principal do longa e aparentemente desta crítica, a personagem de Beckinsale dita o tom de todos os 90 minutos do filme, uma leveza em cenários, figurinos e maquiagem que reflete em seus plots e casa de maneira brilhante com a comédia bem dosada presente no roteiro e principalmente no segundo destaque, a personagem de Tom Bennett, Sir James Martin, uma das mais engraçadas de 2016 e que quando está em cena com Beckinsale leva o filme para um patamar ainda maior.
Indo além de ser apenas mais um filme de época, Amor & Amizade se destaca com o bom trabalho feito com o pouco orçamento e com a melhor dosagem de humor vista nos últimos tempos, sem deixar de ser elegante e fiel ao tempo em que retrata. O filme, porém, seria perfeito em sua proposta se não tivesse uma montagem problemática, no mínimo duas vezes durante a produção o espectador pode ficar confuso com alguns saltos pequenos no tempo e que oculta cenas importantes que ao decorrer do filme são citadas mas infelizmente nunca mostradas, dando uma incomodante impressão de trabalho mal feito.
Tendo a melhor performance de Kate Beckinsale e provando que Jane Austen ainda pode render muito nas telonas, Whit Stillman entrega uma pérola que todos deviam assistir e até refletir, principalmente sobre o papel da mulher no século XVIII.
–
Texto de autoria de Felipe Freitas.