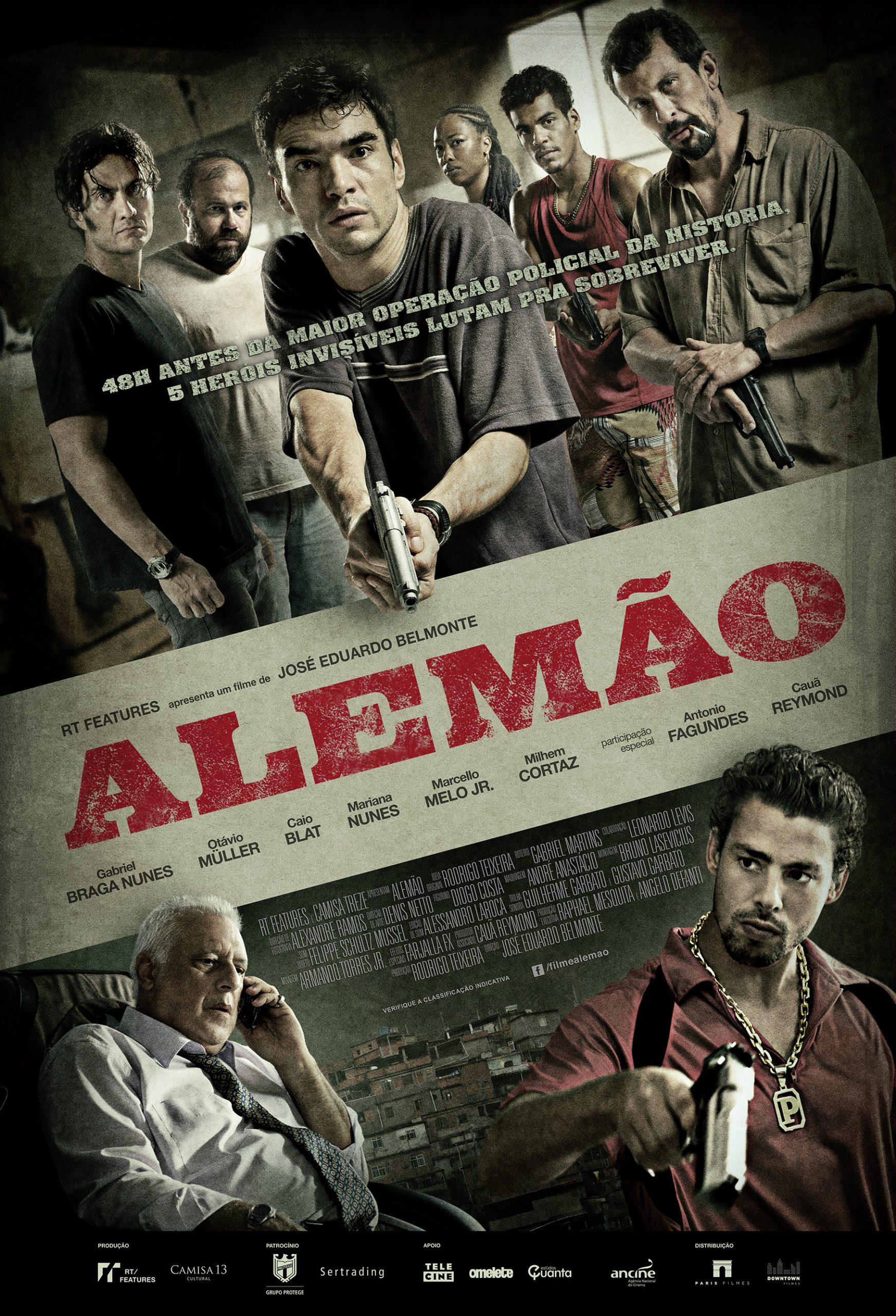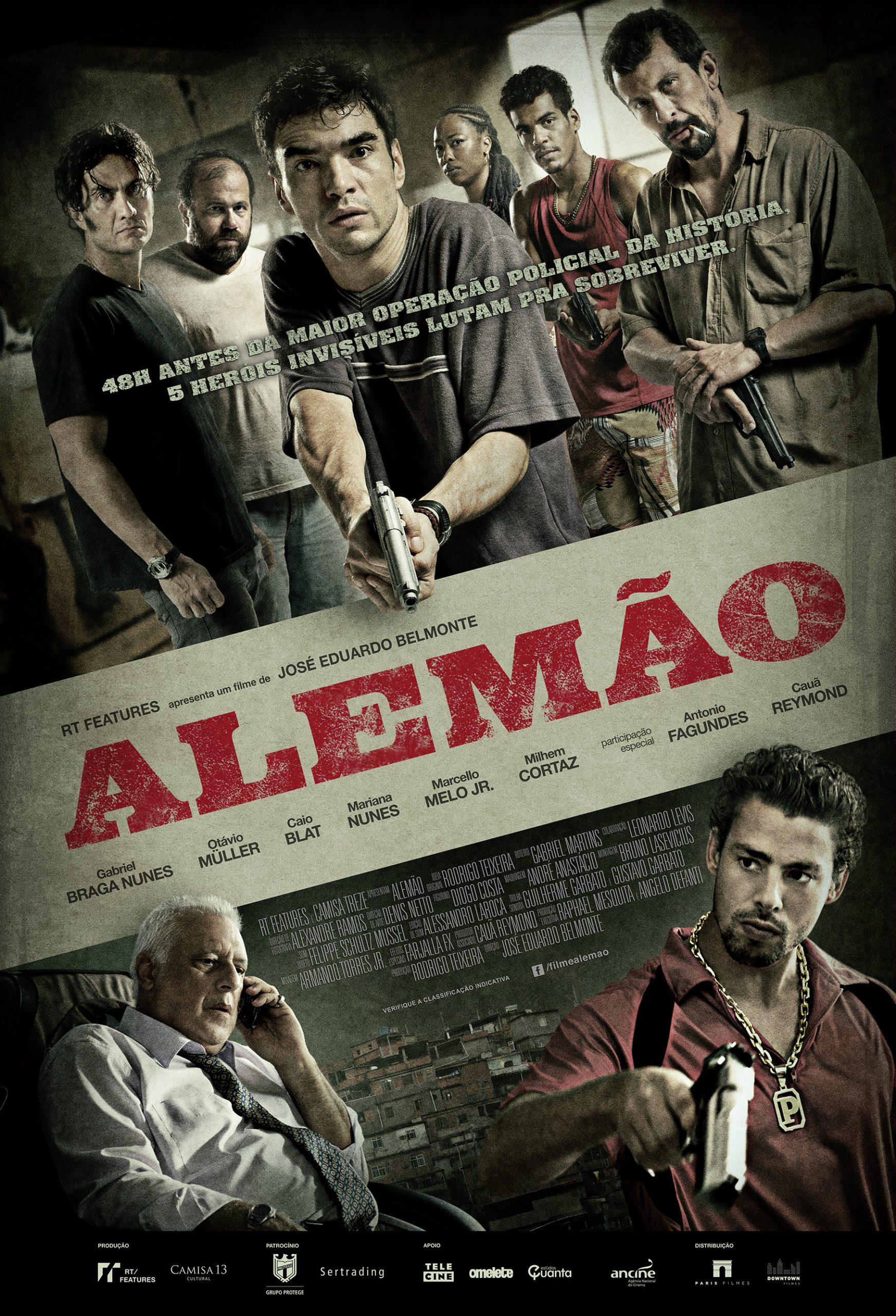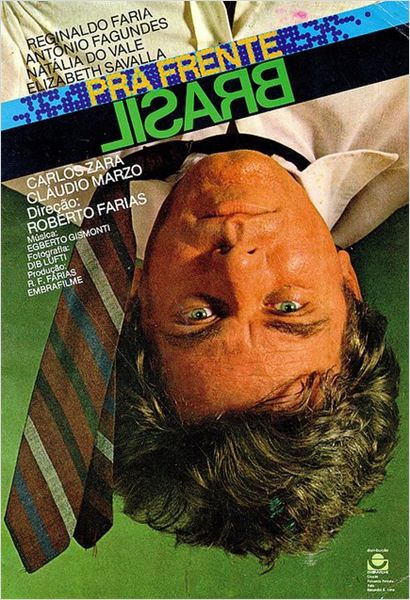Crítica | Doces Poderes

Segundo longa-metragem de Lúcia Murat, Doces Poderes mostra um pouco do terror vivido pela cineasta em tempos pregressos, quando conviveu com as turras das torturas, nos porões da ditadura. Seu modo de filmar representa uma enorme aura de paranoia e perseguição, especialmente quando focaliza Beatriz Campos Jordão, ou Bia, personagem de Marisa Orth, que se muda para Brasília a trabalho para cuidar de uma sucursal de TV na capital.
A trajetória da protagonista é pautada na subida ao poder. A decisão em mudar de estilo a fez querer subir os degraus típicos do jornalismo. Enquanto Bia é apresentada ao seu novo cargo, análogos de campanhas publicitárias, travestidas de informes eleitorais, são mostrados, pensados, roteirizados e editados por mulheres, que falam diretamente para a câmera, intentando explicar a dicotômica relação que têm com a campanha comercial de exploradores do povo e o voto em pessoas ainda de esquerda. A necessidade de por comida no prato passa por cima do utópico discurso, mesmo os mais justos, mas estes fatos não fazem com que a situação seja mais fácil de ser executada.
A mensagem que é passada pela maioria dos personagens é de que os tempos ideológicos mudaram, e que é preciso sujar as mãos, algo que desperta Bia, que ainda acredita que conseguirá mudar a realidade pondo a mão na massa. Ela acredita que não se contaminará.
Os bastidores do poder são escusos até na superfície. Os políticos e assessores não têm qualquer pudor em falar sobre caixa dois. As reuniões de negócios, em que os parlamentares se embrenham, mais parecem orgias descontroladas do que qualquer outra coisa. A associação dos pecados morais à sem-vergonhice típica dos poderosos coiotes que habitam o Planalto faz como destaque a desfaçatez dos personagens retratados em tela.
Os editores e profissionais de vídeos são mostrados em alguns momentos debochando de seus empregadores; os “barões” que pisam no proletariado, e em outras brechas, se mostram inconformados por manipular informações, tentando tornar os truculentos governistas, que pedem para eliminar a realidade e divulgar as felizes imagens, diferentes dos delírios da oposição.
Escândalos sexuais entre membros da mídia e políticos são enfocados através de discussões morais implícitas sobre o voyeurismo, feitas por parte dos que se entregaram ao “prazer” e à sexualidade. Os que mandam no jogo de fantoches e no eleitorado, evidentemente, dão a questões morais uma importância indevida, em detrimento das propostas e planos de governo.
O ponto fraco, talvez, seja o maniqueísmo em que são mostrados os dois candidatos a governador, cujas campanhas são mostradas no decorrer da fita. Enquanto Ronaldo Cavalcanti (José de Abreu) é mostrado como um lobo mau, capaz das maiores baixarias para permanecer utilizando a máquina pública ao seu bel prazer, Luizinho Vargas (Luís Antônio Pilar) é ingênuo ao achar que suas indiscrições sexuais seriam perdoadas pelos seus adversários. O entorno, ao menos, é bastante crível.
A atitude de Bia, ao final se arrependendo do que fez, é um artifício honesto, semelhante ao que ocorreu com o debate Lula e Collor nas eleições de 1989. A figura dela transita entre a de uma mártir e a de uma paladina, mas que, na prática, não fez mais do que limpar a sua consciência, visto que o destaque dado ao seu assumir foi pequeno, irrisório diante da campanha televisiva contrária a ela e às suas convicções morais. O romantismo ligado ao modo de fazer política mostrado em tela ainda é muito presente no discurso de quase todas as facções políticas, sejam elas de esquerda ou de direita. No entanto, não condizem com a realidade exposta nos dias após as aberturas das urnas, seja atualmente ou no ano de 1996.
O final, invertendo as posições de sucesso entre Bia e o fotógrafo Araponga (Luís Mello), que foi o responsável pelas fotos comprometedoras de Luizinho, é curioso, e até causa um pequeno sorriso quando se apela à parte mais cínica da psiquê.
Durante os créditos, os editores das campanhas que permaneceram em seus ofícios tentam dar uma última justificativa para os seus atos, mas sem apelar para uma redenção barata, ainda que no conteúdo de suas palavras dê para se notar uma vergonha persistente de quem precisa mentir para si mesmo e de modo tão triste. Este final emocional, apesar de não condizer tanto com a realidade, é tão agridoce quanto os limites que o cinema permite, quase como um ensaio poético, um teatro onde os atores são sempre obrigados a fazer a mesma peça incômoda.