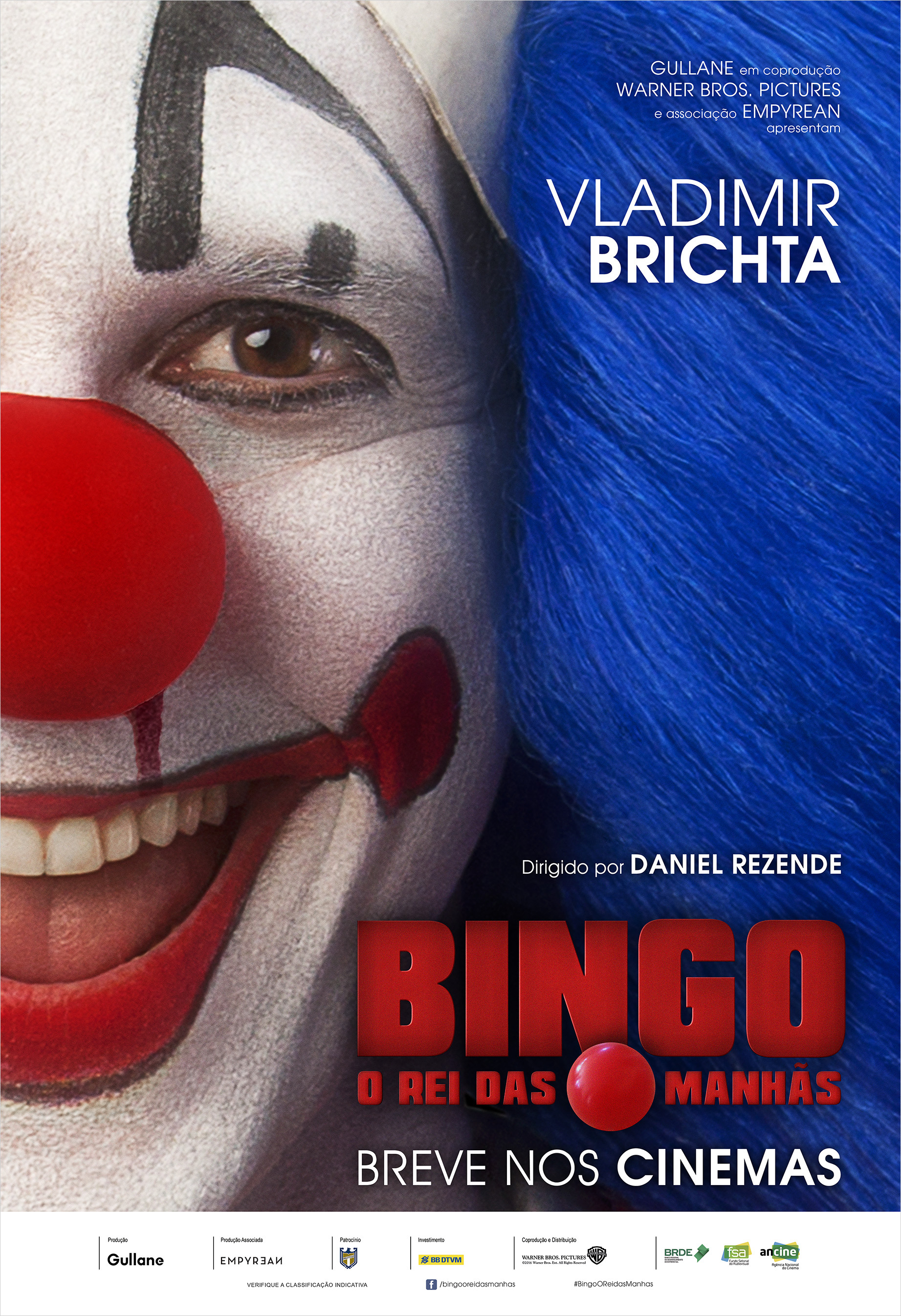Crítica | Turma da Mônica: Lições

Turma da Mônica: Lições é a nova versão cinematográfica das historinhas da turma do Bairro do Limoeiro, trazendo como protagonistas, naturalmente, o quarteto formado por Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali em uma aventura que põe a prova os paradigmas e estereótipos das quatro crianças. O filme é conduzido novamente por Daniel Rezende dando continuação à Turma da Mônica: Laços, baseada na história em quadrinhos homônima de Vitor e Lu Cafaggi.
A história se desenrola no início de modo bem lúdico, com as crianças ensaiando uma peça que será apresentada em breve. Já nesse início há um belo destaque para um dos fatores mais positivos do filme, a fuga da modernidade e da atualidade. Há uma aura retrô na construção desse universo, os telefones são antigos, os vestuários e penteados também parecem ser de outra época, e ao contrário da versão de 2019, não há um apelo tão forte a um linguajar repleto de gírias típicas dos anos 2000.
A Turma da Mônica, de Maurício de Sousa, é sem dúvida a maior e mais popular série em quadrinhos no Brasil. Com as novas versões nas Graphics MSP, seria natural expandir, e lançar-se em outras mídias. Nessa tradução seria muito fácil ocorrer a diluição dessa aura mais inocente e ingênua que os gibis clássicos sempre tiveram, e Rezende, mesmo com tão pouco tempo enquanto diretor conduz bem seu elenco, para além do quarteto formado por Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Gabriel Moreira e Laura Rauseo.
Todas as participações (e são muitas) funcionam, há química não só entre os protagonistas, mas com todos os coadjuvantes (novos ou não). Há realmente uma sinergia presente entre eles, algo que remete diretamente a série de Cao Hambúrguer, Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha um elenco de crianças que funcionavam juntos, mas bem mais velho, em média, dos que compõem o núcleo desta obra, o esperado é que não demore muito a fazer outros filmes, pois o elenco certamente envelhecerá, e pode ocorrer com ele o mesmo que com Stranger Things, onde os atores estão grandes demais para seus papéis nas temporadas recentes.
O roteiro de Thiago Dottori trabalha bem não só o relacionamento entre os amigos, mas também as aparições dos personagens clássicos. Franjinha, Do Contra, Nimbus, Marina e tantas outras crianças aparecem, e cada uma delas têm pelo menos um bom momento como centro da narrativa. Até versões da Turma da Tina, com Rolo, Pipa e Zecão são bem representadas, e embora não tenham o mesmo poder do Louco no piloto automático, e sirva ao roteiro como a contraparte mais velha da Mônica, uma torta tática de roteiro utilizada desde que o cinema se tornou uma forma de arte super popular.
Turma da Mônica: Lições apresenta uma nova versão para os meninos e meninas, obriga-os a crescer e perceber que precisam um do outro, mesmo quando são forçados a se separar. Além disso, as superações deles, por menores que sejam, representam bem os tentos que crianças devem ter ao longo de sua infância. Obviamente, o maior foco da adaptação é a diversão, mas sua história é coesa e mesmo nas interferências bobas, ainda conseguem soar doces.