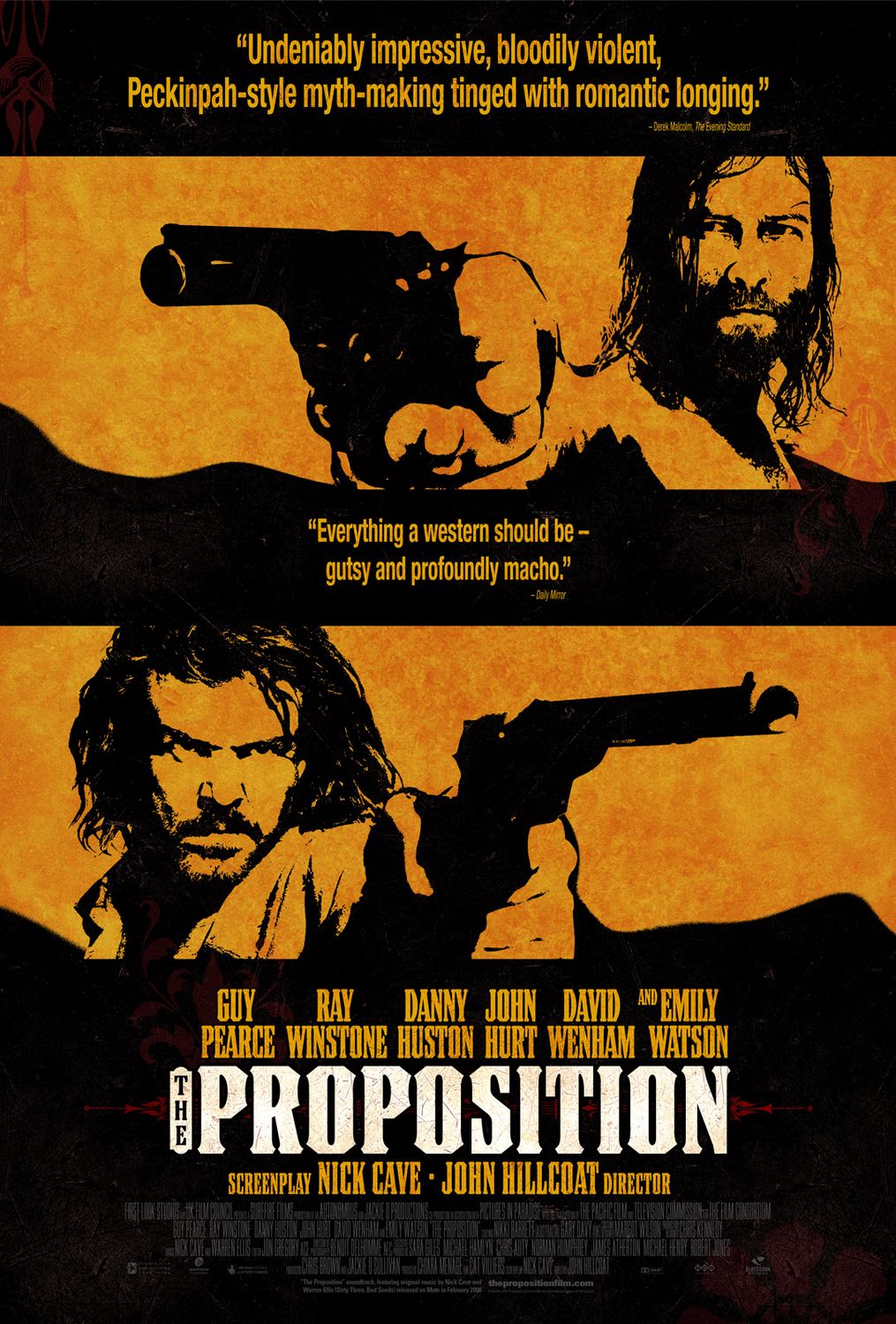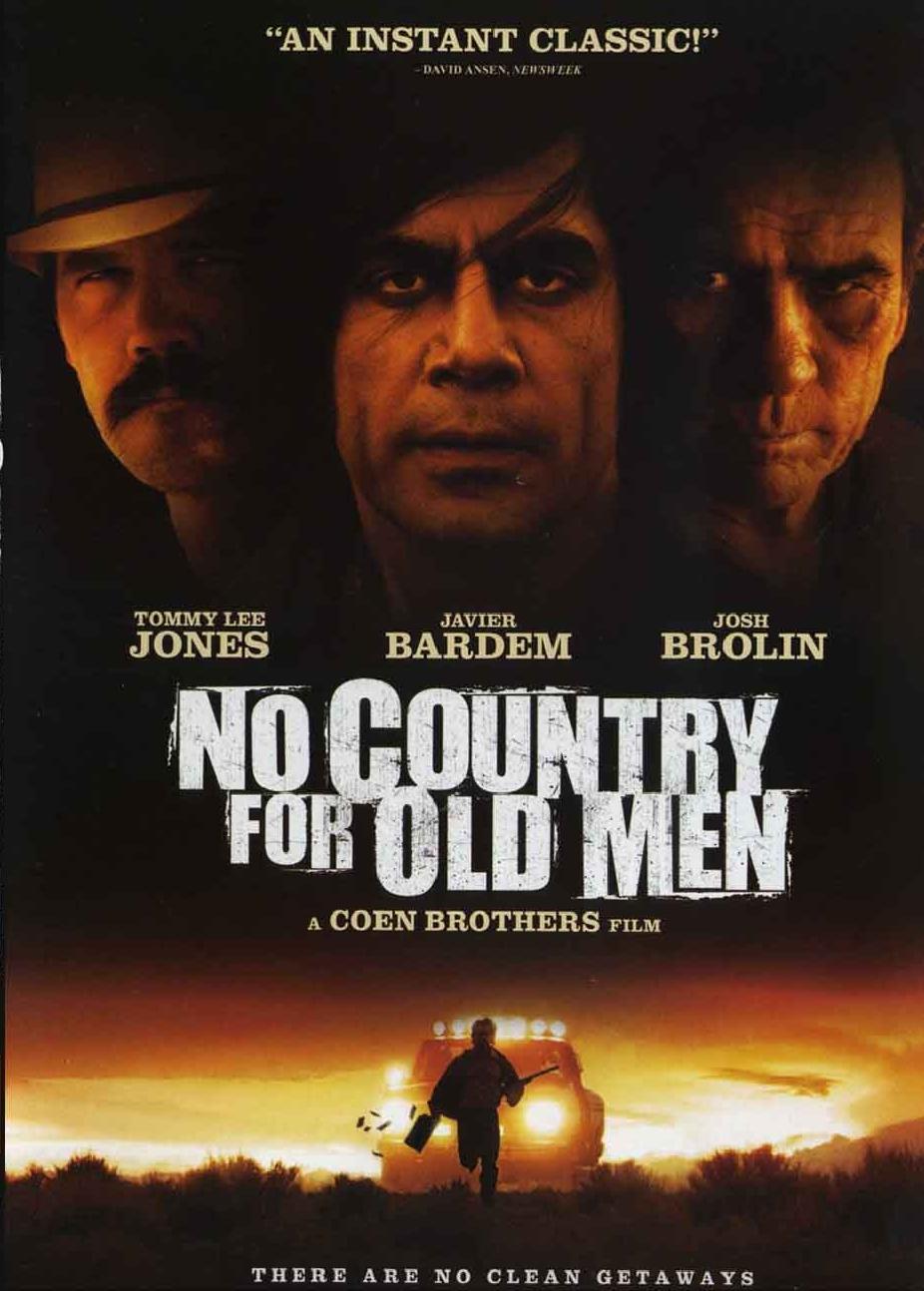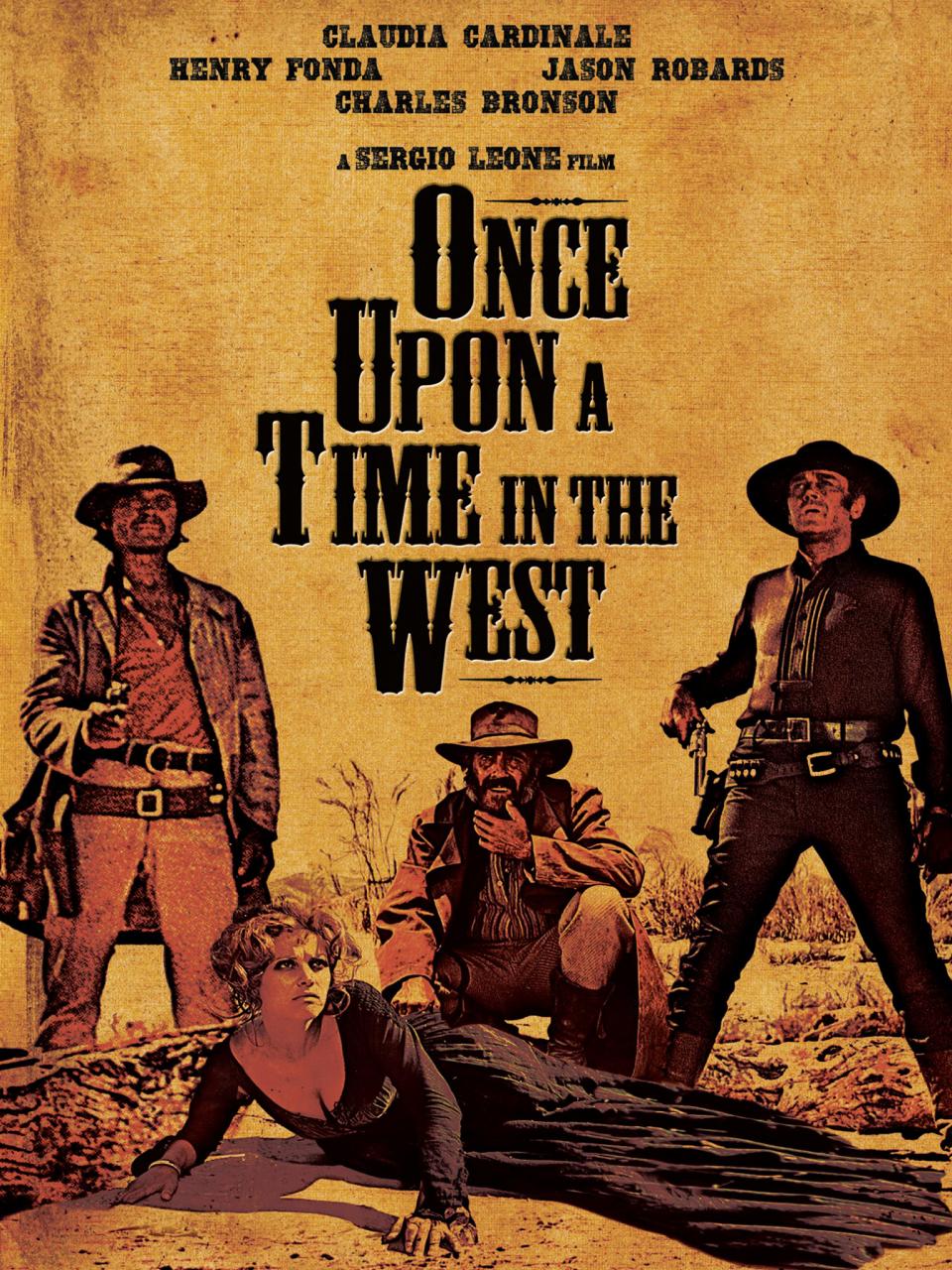Crítica | Dez Segundos de Perigo
Dentre as nossas raras certezas, é dito que todo mestre possui um filme que destoa da sua carreira. Ninguém escapa desse karma que o universo reserva, cedo ou tarde, até para as maiores lendas do Cinema. Em Hollywood, isso costuma rolar quando um grande nome, no auge da fama, ganha a confiança de um estúdio para realizar um projeto dos sonhos. O Primeiro Homem é o exemplo mais recente disso: com todo o louvor mega exagerado de La La Land, Damien Chazelle ganhou liberdade total na Universal, e o projeto da primeira missão à lua foi um fracasso tanto de público, quanto crítico. Mas Dez Segundos de Perigo, título esperto e referente ao tempo médio que o peão se mantém em cima do touro, nunca foi sonho de Sam Peckinpah – estando mais para um vislumbre (nada criativo) desses que temos numa rápida soneca vespertina.
Porque o filme é totalmente deslocado das obras-primas do diretor nos anos 1970, a ponto de fazer quem não conhece os grandes clássicos de Peckinpah se desinteressar em descobri-los se começar por aqui. Ao revelar que esse faroeste urbano está entre Meu Ódio Será Sua Herança (1969) e Billy the Kid (1973), é o mesmo que assistir um pato manco jogando bola no intervalo entre duas partidas com Pelé e Garrincha. Todo o brilhantismo que veio antes e depois nesses filmes destoa violentamente do marasmo deste raquítico drama sobre um ex-campeão de rodeio, Junior Bonner, de volta à sua cidade rural no Arizona, a qual vive um intenso processo de urbanização. E é justamente essa ambientação que melhor se encaixa na perspectiva naturalista e bem-humorada do cineasta, mas que no filme em questão é preenchida pelo vazio de uma trama que poderia ser interessante, caso Peckinpah não estivesse tão no modo automático.
Precisando de grana para sobreviver e ajudar o pai acidentado, o veterano Bonner (Steve McQueen, moreno e de chapéu de cowboy) tenta a sorte uma última vez na vida após uma longa pausa na arena, mas não antes de ser pressionado pelo próprio irmão ganancioso a vender a propriedade da família naquelas áridas planícies do oeste americano, em busca de mais dinheiro – e problemas à vista. Um misto de drama rasteiro acerca do impacto que o dinheiro pode ter nas relações de família e amigos, com breves momentos de entretenimento (as cenas de rodeio são o ponto alto, no típico estilo de câmera lenta e edição frenética de Peckinpah, salvando a fita do absoluto esquecimento), Dez Segundos de Perigo é a maior digressão da carreira sublime de seu diretor. E se não é uma sessão de fato ruim, esta oferece a certeza amarga de que todo grande cineasta carrega consigo um O Poderoso Chefão: Parte III para chamar de seu. C’est la vie.