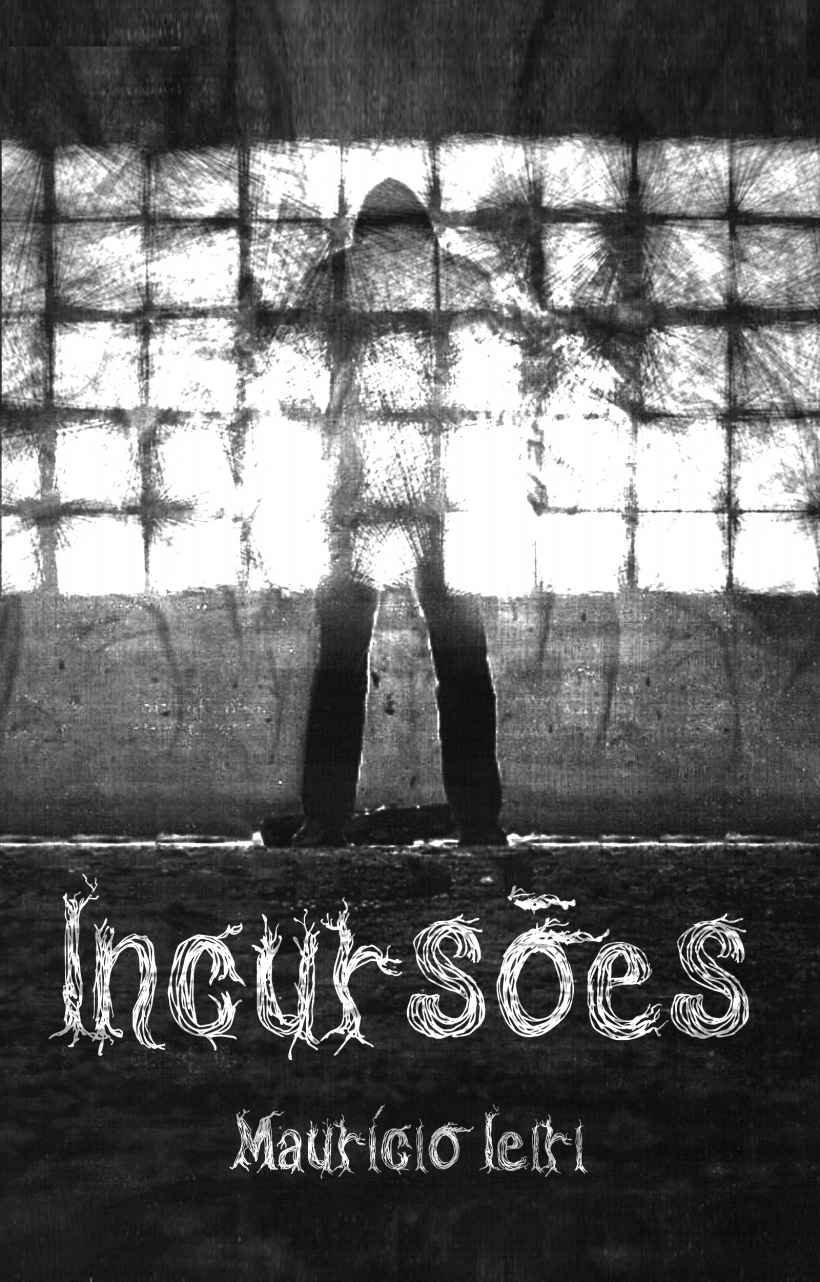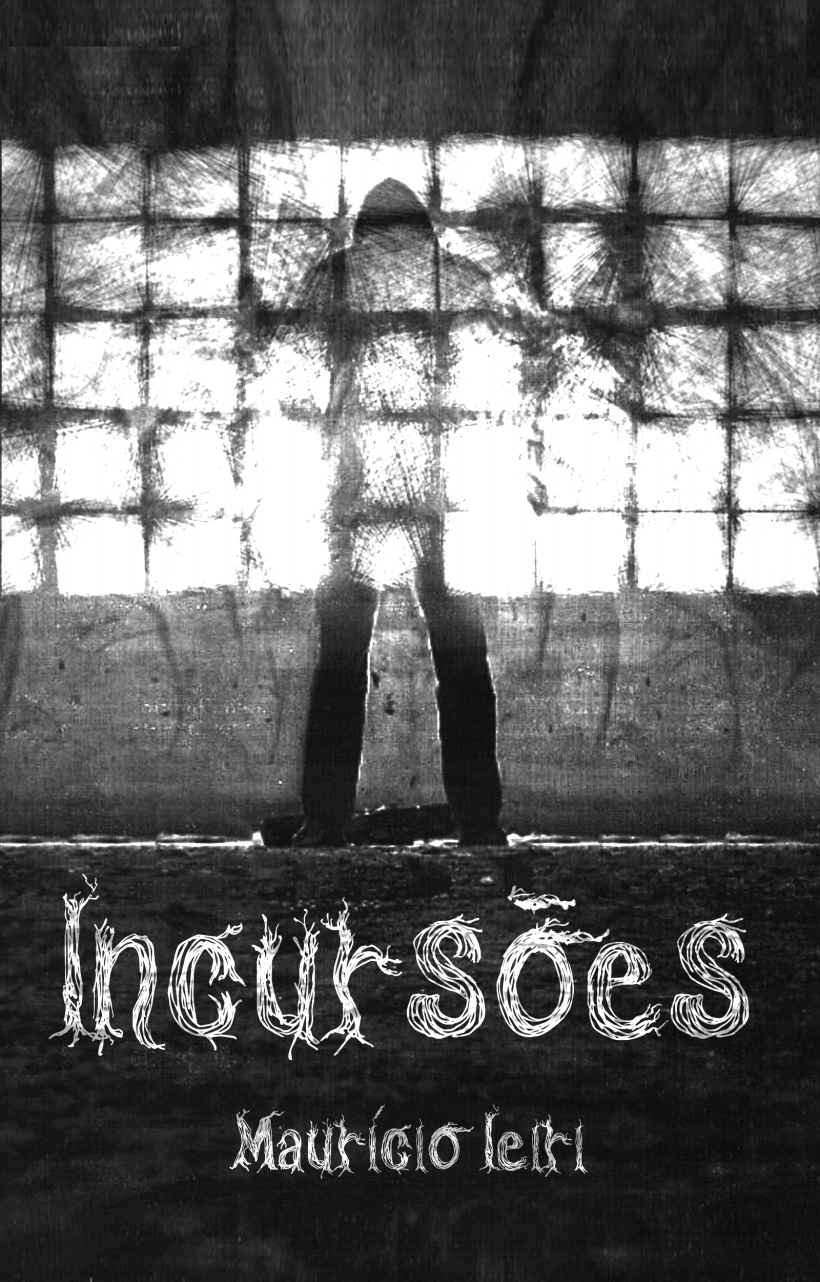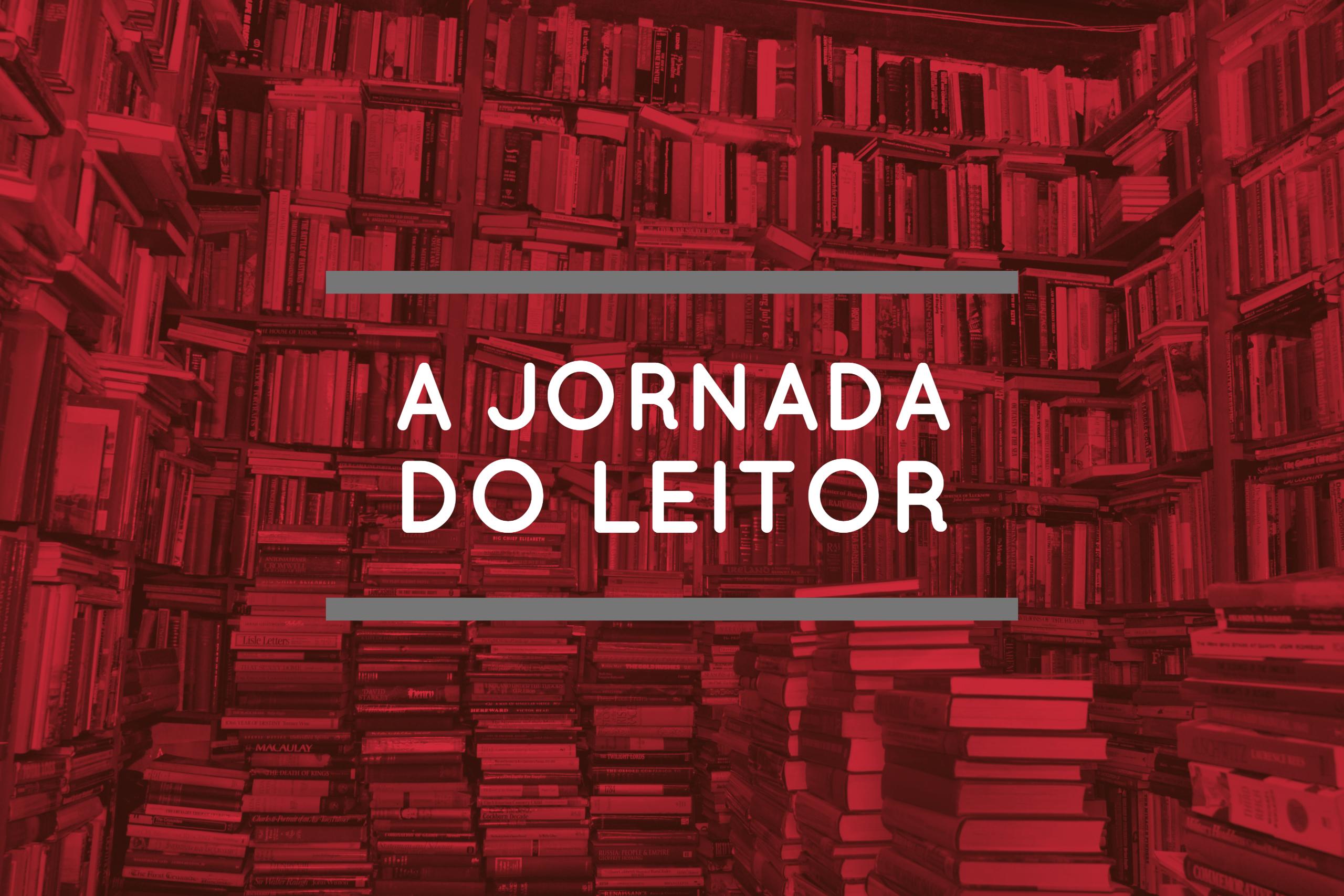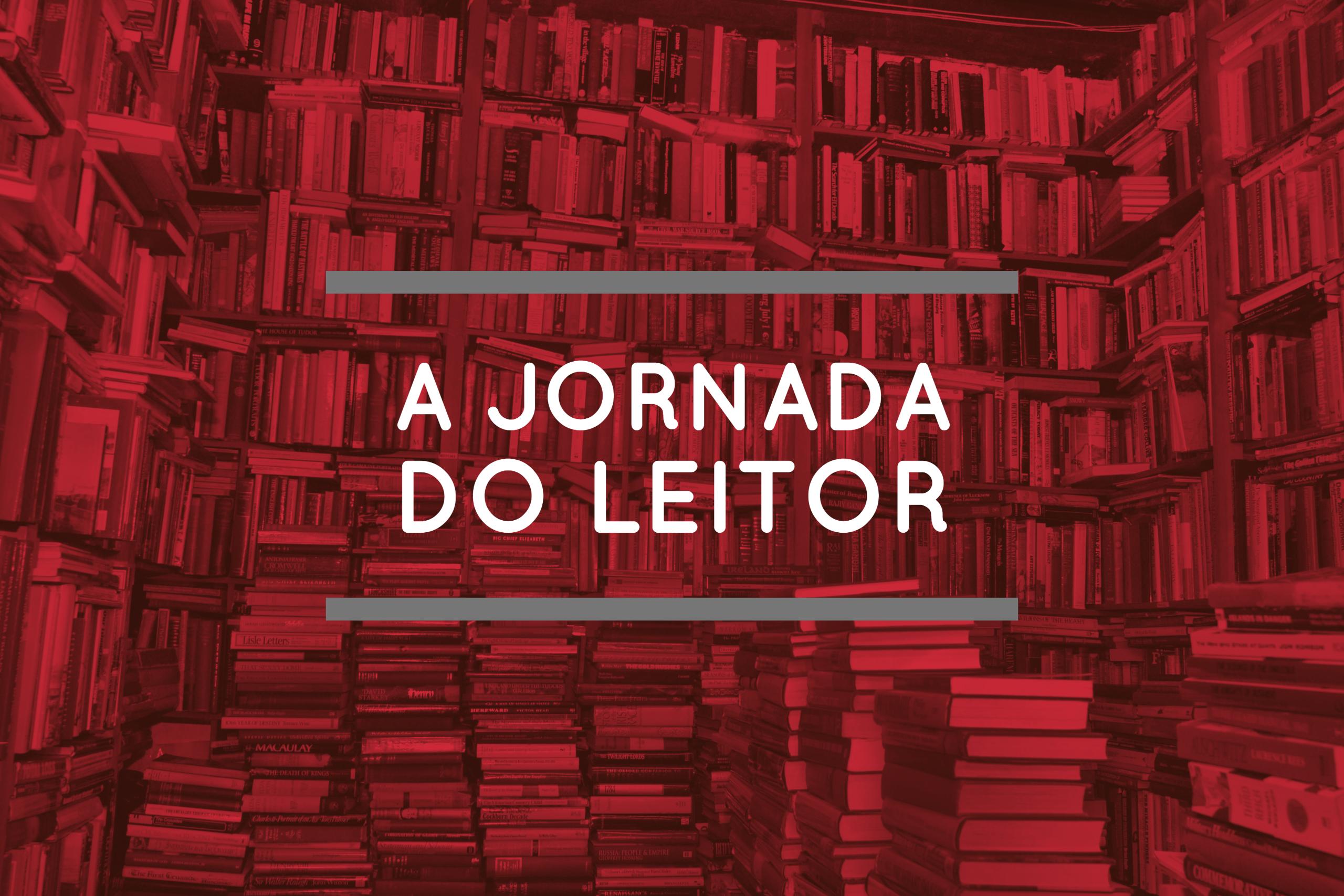Resenha | O Elefante Desaparece – Haruki Murakami

Por definição, tempestades perfeitas são eventos raros e únicos, com vestígios duradouros para o bem ou para o mal. Chegam com imponência justamente quando se esquece o guarda-chuva em algum lugar. Se o maldito estivesse em suas mãos, gota alguma cairia do céu. Mas você está vulnerável: tênis novos, cabelos penteados, celular e livros caros em uma mochila que não, meu amigo, não é impermeável. Tempestades perfeitas, veja só, precisam chacoalhar o seu núcleo e arrastar com fúria as barricadas internas, promover enxurradas que destroem a letargia erguida por horas de televisão e discussões rasas. Do contrário, será um chuvisco.
Meu primeiro Murakami foi uma tempestade perfeita. Chegou sem aviso logo nos primeiros capítulos de Norwegian Wood. Fui o primeiro a estranhar o impacto que o livro de Haruki Murakami causou na minha cabeça. Mas depois da primeira caneca de café na frente do livro, fiquei absorto nas páginas frias de um protagonista sem nome, distante e preso num triângulo amoroso abalado por um suicídio.
Eu estava em Londres quando comecei o livro. sentado na mesa da cozinha na casa da minha irmã. Tinha um tempo limitado para terminar a pesquisa de mestrado, mas durante três ou quatro dias, tudo em que conseguia pensar era no livro de Murakami. Longe de casa há tempos, com cicatrizes emocionais tão recentes que voltavam a sangrar ao menor dos toques, vivia a maior parte do tempo sozinho, flutuando entre livros e escrita, quilômetros corridos e conversas passageiras, pesquisas e aulas, sempre com a cabeça em outro lugar, como se jamais fosse permitido pertencer ao presente.
Caminhando nas ruas escuras e encharcadas de Londres, sentia os efeitos da minha tempestade perfeita exclusiva. E não podia ser diferente. Foram meses em que me fechei para quase todo contato humano e me concentrei em entender o que acontecia comigo. Vislumbrar algum tipo de caminho para me guiar. Norwegian Wood me pegou sem guarda-chuvas. Um livro com personagens de impressionante complexidade e diálogos rítmicos que fluem suavemente com facilidade, como dançarinos acostumados com o piso do salão.
Do frio ao calor, anos mais tarde, tenho em mãos O Elefante Desaparece, conjunto de contos recém-lançado pela Alfaguara com tradução direto do japonês por Lica Hashimoto. Entre o garoto no meio da tempestade em Londres e o homem de volta ao seu país natal, as feridas foram bem cicatrizadas.
Os 17 contos da coletânea representam o maior festival para os que jogam o Bingo Murakami. Contos que buscam a estranha beleza nos diálogos entre desconhecidos que se abrem numa decisão de último instante, derramando sobre pessoas aleatórias os mais profundos medos e reflexões. Ao mesmo tempo que evocam detalhes vívidos com a maestria de um texto bem composto. Histórias rápidas que cortam a gordura narrativa, porém, entregando ao leitor um texto que não se desperdiça com reflexões sobre o tempo.
É como se cada pequena história fosse uma versão condensada e com menos impacto dos livros mais longos: obsessão por partes específicas do corpo. Gatos e mais gatos. Pensamentos sexuais estranhos. Discos de jazz e espaguete às dez da manhã. Telefones que tocam de forma peculiar enquanto o protagonista decide, à lá Shakespeare, se deve atender ou não. Desaparecidos sem deixar vestígios. Gatos desaparecidos com algum vestígio. Escritores que saem todos os dias para correr entre 5 a 7 quilômetros.
Como a obra do autor é urbana, na maioria dos contos estão presentes contrastes entre a cacofonia do trânsito e do santuário doméstico, de apartamentos apertados aos grandes casarões dos ricaços. Tókio, populosa, apertada, confusa e alienante é um palco onde se procura, antes de tudo, silêncio e privacidade para reencontrar a identidade mais profunda. Uma busca que pode terminar na composição de outro indivíduo.
O tema da identidade é um dos mais caros ao autor. Desde Norwegian Wood, passando pelos contos, até chegar ao Kafka à Beira Mar e o divisor 1Q84, há uma procura da segunda metade de um indivíduo. Uma busca que talvez termine na figura do outro. Uma análise profunda que nos faz navegar por águas estrondosas, mesmo quando o mar está tranquilo. Uma jornada que resulta em ruas estranhas e passagens subterrâneas que não são facilmente acessíveis. Não raro, a procura leva ao total desprendimento do indivíduo, uma quase alienação de si, de suas estruturas temporais e sociais. É quase irônico o quanto Murakami explora essa ideia, perder-se ao procurar a si mesmo. Assim, das ruínas, sabemos que o trabalho será árduo e tomará boa parte dos próximos anos, mas é quase uma resiliência derrotista que toma conta de algumas personagens: do fundo do poço, só há um caminho a seguir.
O Elefante Desaparece também segue os que fogem das pequenas facetas do mundo banal. O casamento, a vida acadêmica, horas intermináveis no escritório apertado, o que não deixa de ser uma fuga de si mesmo. No conto Sono, este resolve faltar a uma esposa de dentista, uma mulher que vive o máximo tédio, deixando-se levar pelas águas do tempo. É o tipo de casamento em que uma das partes divaga durante o sexo, cujo tesão há muito secou e apenas a rotina os mantém. Ela, então para de dormir. E na ausência do descanso, da restauração do sono, encontra vitalidade. Devora livros, move o corpo por mais tempo e pesquisa os motivos do sono. É uma escolha difícil, buscar uma cura para o que acontece – a incapacidade crônica de dormir – e viver uma entediante vida em família, se ela pode viver ao máximo enquanto a falta de sono rapidamente clama o resto de seus dias.
Em outra história encontramos no fundo da garrafa o escape das obrigações sociais. Na constante luta pela liberdade, há uma sutil crítica de que somos animais sociais de hábitos tão complexos e contraditórios, que nem mesmo percebemos a falta de nexo. O resultado? Escolhemos correr, mas nos prendemos sempre ao mesmo percurso, um quilômetro depois do outro, cada passo por vez. Uma fuga em círculos.
Claro, poderia discorrer longamente sobre os contos do livro, mas procuro apontar ao leitor as nuvens no céu. Olhe para elas. Pesadas, não? E esse vento? Sinta a umidade carregada no ar, a estática que parece dançar ao nosso redor por toda nossa pele, o cheiro de ozônio de uma tempestade de raios. Vai chover.
Ao menos é o que parecia.
Sou escritor. Nos últimos anos, tudo que li se encaixa em fantasia, exceto por um ou outro título de não-ficção aqui e ali, sempre comprimidos entre títulos do A Roda do Tempo, Malazan ou qualquer coisa com sílabas demais para enumerar. Li para me entender e me educar no campo, mais a trabalho do que por lazer, apesar de meu amor por tudo que a Fantasia representa. Aos poucos, senti os efeitos da overdose de Balrogs e Dragões, dos clichês do herói bucólico que encontra o mentor e parte até a caverna secreta, e comecei a ansiar por outras áreas da ficção. Escolher um Murakami era o mais óbvio, uma velha luva para cobrir minhas mãos na fria escuridão. Sim, as nuvens ainda estão sobre nossas cabeças. Mas porque a chuva não veio?
Foi com surpresa que encarei meu céu limpo, eternidade em azul, cada nuvem tão presente quanto o elefante desaparecido. Uma gota sequer para molhar o rosto. Um dos fatores que manteve o ar tão seco vem da brevidade dos contos. Por natureza, não há espaço para desenvolver todos os temas propostos, explícitos e implícitos. Não é por acaso que o primeiro conto do livro, O Pássaro de Corda e as Mulheres de Terça-feira, voltou na forma de romance, o Crônica do Pássaro de Corda – o mesmo aconteceu com Norwegian Wood, originalmente Firefly, que aparece em Blind Willow, Sleeping Woman, ainda inédito no Brasil.
Por vezes, quando a história finalmente ganha impulso, encontramos um final abrupto. É uma falsa impressão de que o texto é raso, pois todo o conteúdo está lá, em cada página, em cada uma das linhas bem escritas. Talvez o problema venha do próprio Murakami, cujo estilo pede um pouco mais de volume para encontrar seu próprio ritmo. Eis o trompetista, que com maestria toca o Jazz, apresentando ao ouvinte uma coletânea de músicas pop. A verdadeira beleza de suas narrativas estão no prazer das longas e solitárias corridas. Não nos tiros explosivos que deixam os músculos das pernas queimando.
Assim, a chuva é uma promessa no horizonte, nada mais. Como leitor, também sou diferente daquele rapaz afogado na tempestade perfeita. Marido, pai e escritor, não mais perdido em ruas de tom noir. Quando meu cérebro não desliga e o sono foge, é por conta de ansiedades diferentes daquelas, um tanto reais e assustadoras, distante das questões que outrora me consumiam quando Norwegian Wood me aguardava na cabeceira da cama.
Todos mudamos, é o que criaturas vivas fazem. Adaptamo-nos ou não. Ganhamos e perdemos. Odiamos. Amamos. Tomamos partidos e escolhemos dentre religiões. Por vezes, decidimos não acreditar, fácil assim. O fato é que tempestades perfeitas podem chegar e nunca cair. Algo não estava perfeito, afinal.
E desta vez, a culpa também é minha. O Elefante Desaparece não deve nada ao leitor quando todos os contos foram lidos. Porém, eu mudei. Em muitos aspectos, ainda sou o mesmo. Gosto de matar monstros imaginários ao jogar dados de vinte lados; não gosto de funk ou livros da Ayn Rand. Ao mesmo tempo, não sou mais o mesmo. E isso é o que basta. Se hoje abrisse Norwegian Wood e mergulhasse no livro pela primeira, talvez não encontrasse uma tempestade perfeita. No fim, Murakami tinha razão: eu me perdi e assim, consegui me reencontrar.
Talvez um dos contos tenha o jazz ideal de tempestade. E se não o tiver, tudo bem: tempestades perfeitas são raras.
–
Maurício Ieiri é um historiador que não faz História. Atualmente, tentando descobrir o que fazer com sua vida, partindo deste exato momento até o dia em que morrer. No meio tempo, escreve ficções. Participou do blog coletivo Os Caras do Clube e recentemente lançou seu primeiro romance, Incursões.
![]()
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram.