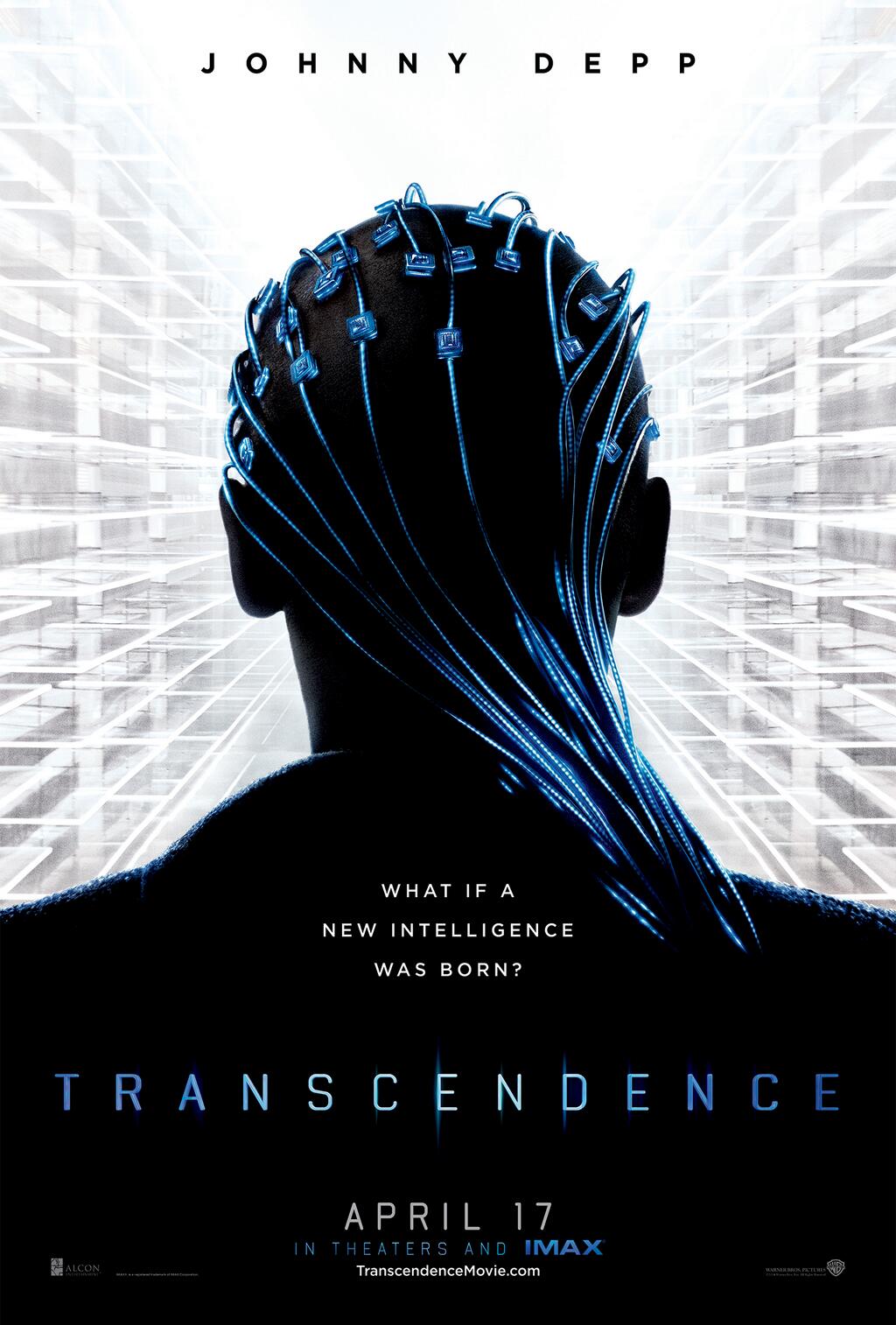Crítica | Quarteto Fantástico
Há um boom de filmes baseados em histórias em quadrinhos desde o renascimento da espécie como gênero, que se iniciou lá com X-Men. A ideia era excelente: tratar o filme de super-heróis como um gênero dentro do outro, e assim haveria abertura para que Bryan Singer fizesse uma bela Sci Fi com elementos de ação, necessária ao desenvolvimento da linguagem cinematográfica deste tipo de filme. Na mesma época, Homem-Aranha de Sam Raimi trouxe uma certa pureza aos super-heróis ao trabalhar temas típicos dos personagens de quadrinhos como responsabilidade, caráter, bondade e sacrifício — abordagem que se repetiu poucas vezes, como em Homem de Ferro, Vingadores e nas continuações de Homem-Aranha. Porém não era possível fazer isso com todo e qualquer material, e estabelecer gêneros maiores e então encaixar a mitologia do super-herói parecia uma decisão mais bem acertada. Christopher Nolan fez seu suspense policial numa Gotham City sem a aura mágica a qual normalmente se observa na cidade, e deu certo elevando o nível dos filmes de super-heróis para patamares mais ousados. Com os direitos de diversos personagens da editora Marvel nas mãos, a Fox buscou completar sua fatia do bolo com Demolidor – O Homem sem Medo e Quarteto Fantástico, ambos nada bem-sucedidos.
Eis que aparentando novos rumos e visões depois do excelente X-Men: Primeira Classe, o estúdio enfim encontrou sentido para seus personagens. Precisando fazer algo para não perder os direitos sobre eles, resolveu que era hora de reiniciar o Quarteto Fantástico nos cinemas. Para a missão contratou o promissor Josh Trank (Poder Sem Limites) que, após este filme, estaria à frente de um dos filmes do universo Star Wars da Disney, e faria segundo suas palavras, um Sci Fi com referências de David Cronenberg, pitadas de horror e algo totalmente diferente do usual. Como parte de suas decisões artísticas o elenco seria formado por talentos inquestionáveis de uma nova geração que conta com Miles Teller (Whiplash – Em Busca da Perfeição), Michael B. Jordan (Fruitvale Station) nos papéis de Senhor Fantástico e Tocha Humana, e trataria de uma nova geração de também cientistas que estão agora no mundo com a missão de consertar as gerações passadas que destruíram ou renegaram. A genialidade de Reed Richards/Senhor Fantástico contrasta com sua inexperiência e cria um interessante personagem que nunca conseguiu se impor corretamente, mas que tem em si a sede por compreender o mundo à sua volta e que assim segue com a resiliência devida. Após ser descoberto pelo cientista Storm em uma feira de ciências, Richards tem a chance de fazer a diferença no mundo.
Quando quase nada poderia dar errado, boatos sobre brigas no estúdio e a sorrateira substituição de Trank por Mathew Vaugh (X-Men: Primeira Classe) para “consertar” o filme surgiram por toda a internet, denunciando que ou o resultado teria ficado ruim, ou o estúdio queria na verdade uma outra coisa. O resultado das possíveis confusões se vê na tela em um filme sem foco, estrutura ou originalidade, e que de tão genérico é possível ter vislumbre de praticamente qualquer filme de super-herói recente, desde o recente Homem-Formiga, até O Homem de Aço. Não haveria muitos problemas caso esses vislumbres tivessem relação com os pontos fortes dos filmes citados, porém se percebe apenas a soma dos mais variados clichês recentes do cinema, como a ação artificial baseada em efeitos visuais fosforescentes. Está tudo lá como uma espécie de mapa mental das convenções de gênero que poderiam ser inseridas no filme, mas sem o filtro de qual combinação fazer.
Embora o terceiro ato seja terrivelmente problemático, os dois primeiros têm dificuldades de conectar e trazer seus protagonistas para o centro da história e da ação, pois não consegue localizar a importância dos personagens à trama. Quem sofre particularmente com isso são os personagens Ben Grimm/Coisa (Jamie Bell) e Sue Storm (Kate Mara), que não podem contar nem mesmo com a grande qualidade de seus intérpretes, já que eles não têm espaço para atuar e são sufocados por exigências meramente performáticas e banais, além de inseridos na obra como pura convenção. Para resolver este deslocamento, boa parte das soluções são apressadas e amadoras. A solução para dar alguma substância aos personagens é fazendo deles contrapontos das intenções do governo para o uso de suas habilidades, o que seria ótimo caso isso representasse alguma consequência para a trama, o que não foi possível, em muito pela metragem do filme – apenas 100 minutos. Aos demais personagens, resta como motivação para a maior parte de suas ações a necessidade de reconhecimento parental, porém este recurso perde-se em sua frivolidade por ser aplicada a praticamente todos os personagens, mesmo àqueles cujo desenvolvimento não ressoa.
A falta de perigo, urgência ou gravidade é outro ponto fraco deste filme. Nem mesmo mortes recebem o impacto que merecem, como se o filme se apressasse para uma resolução numa tentativa de subir o ritmo rapidamente e assim criar o clímax. Ao perder-se sobre o que gostaria de mostrar, cria um segundo filme ao iniciar o terceiro ato e isso deixa óbvio que decisões foram tomadas no decorrer da produção e que essas decisões alteraram o material e ideia inicial, levando do Sci Fi com toques de terror prometido (e parcialmente entregue até então) a uma aventura boba de resolução fácil como nos filmes anteriores e alguns pares recentes do cinema de super-herói. Tal desconexão se vê inclusive na edição, que insere e retira personagens de lugares quase que teletransportando o elenco em cortes tão secos que chegam a perder o espectador por um segundo até que este se localize novamente, além de utilizar os recursos mais primários de passagem de tempo que poderiam existir.
As boas interações do início do filme são desconsideradas com seu decorrer, dissolvendo os laços criados sem reconectá-los ao final, demonstrando uma certa falta de empatia com aqueles personagens. Neste ponto, é difícil de entender o porquê do espaço em tela para Victor Von Doom (Toby Kebbell), se sua participação efetiva como vilão seria apenas burocrática, desperdiçando um visual interessante e cenas de demonstração de poder corajosas. Ao fim, pela falta de sua presença, Doom não exerce o papel de vilão, ou seja, aquele que incita a situação para que o herói haja. Aqui, nenhum papel é bem definido com relação a uma estrutura usual de vilão e herói, adquirindo-a apenas ao final, quando o resultado destoa do desenvolvimento.
Se o clima e personalidade são muito bons e as pequenas ousadias do roteiro têm capacidade de aliviar a tensão quando surgem, as dificuldades de relacionar suas qualidades ou de lidar com o número de personagens ressaltam sobre seus pontos positivos gerando uma obra no mínimo desconjuntada (que não chega a ser sempre terrível). Quando somada ao complicado terceiro ato, que além de curto e apressado representa uma outra estética e dinâmica de todo o resto, torna-se complicado olhar com mais afeto as licenças tomadas por personagens e trama.
–
Texto de autoria de Marcos Paulo Oliveira.