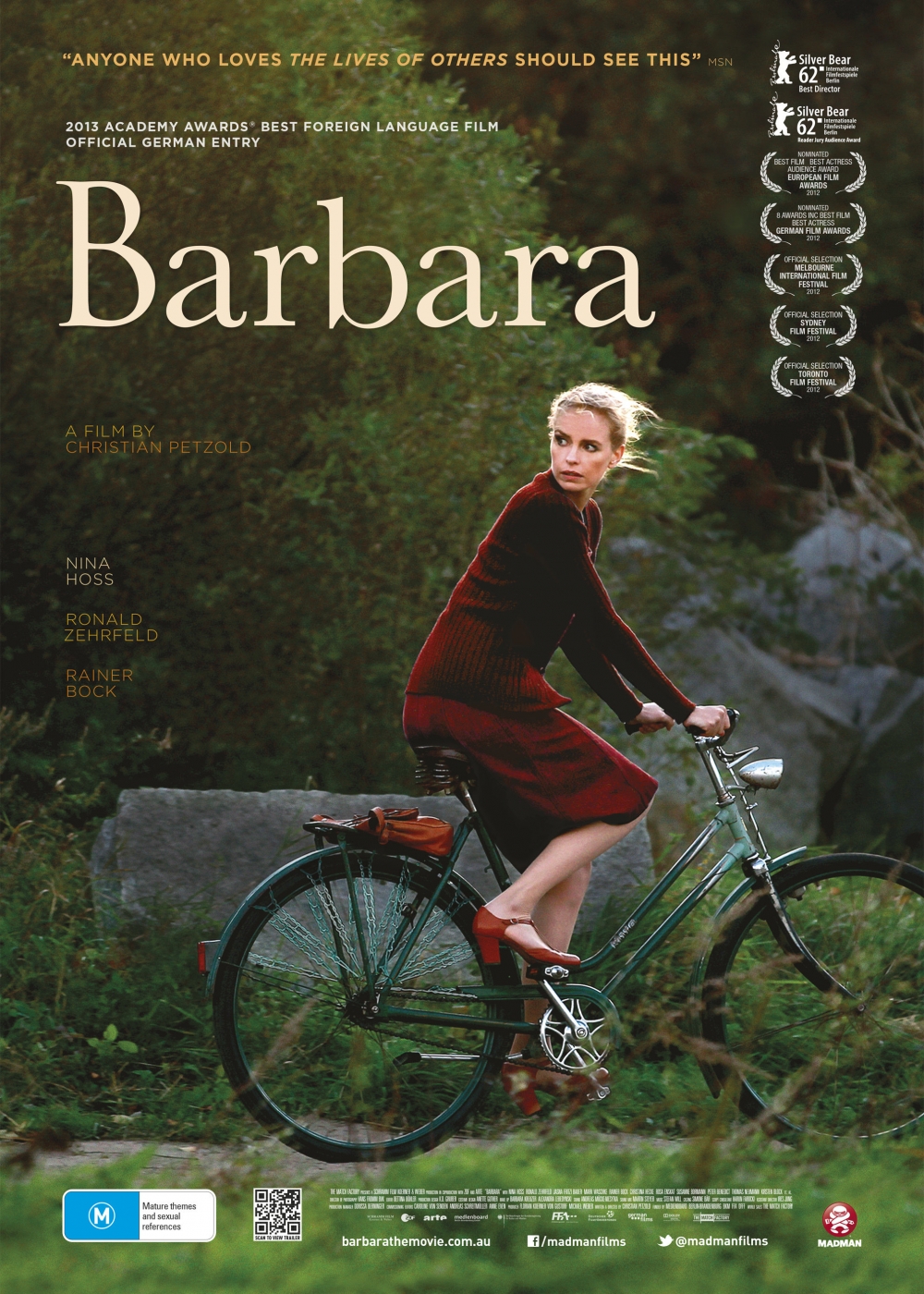Crítica | Metrópolis

Metrópolis talvez seja a obra máxima de sua época, e sua exibição hoje beira o desafio, visto que é difícil achar uma cópia que faça jus ao original. Os rolos de filmes originalmente exibidos em 1927 foram restaurados, a partir de uma cópia encontrada na Argentina e finalmente se pode apreciar ao menos em parte qual era a ideia que o austríaco Fritz Lang tinha para a adaptação do livro de Thea von Harbou, escritora que inclusive escreveu o roteiro da adaptação.
A história se passa um século após a produção do filme, em 2026, e a grande e bonita cidade de Metrópolis esconde nos seus subterrâneos um segredo terrível, ela é movida pela trabalho braçal da classe operária, homens pobres que não tem ninguém a não ser eles mesmos. A ideia de futuro de Harbou era pessimista, ou realista se o intérprete da obra for mais pragmático, e não encara a humanidade como espécie benevolente ao ponto de conseguir se livrar da condição escravocrata que cercou sua história.
Não demora a se explorar como é a rotina de quem vive na parte de cima de Metropolis. O dono do lugar, Joh Fredersen (Alfred Abel) tem um filho, chamado Freder (Gustav Fröhlich), um garoto mimado que passa seus dias praticando esportes e flertando com belas moças. Logo, uma misteriosa mulher aparece, Maria (Brigitte Helm), e ela carrega os filhos dos trabalhadores consigo, para que pudessem conhecer a superfície. Entre o choque da realidade completamente diversa da sua e contemplar uma mulher igualmente diferente das que vê, Freder se apaixona e decide ir até a cidade dos trabalhadores. Logo se depara com as condições degradantes de trabalho.
Lang faz uso de maquetes muito bem pensadas para registrar as imagens panorâmicas das cidades. A sofisticação dos cenários unidos a narrativa de extrema dramaticidade típica do expressionismo alemão fortificam a denúncia sobre os perigos do avanço desenfreado do homem rumo a urbanização e coisificação dos outros homens, sobretudo, os mais pobres. Mesmo que os personagens abastados afirmem que as configurações de mundo são assim desde antes de nascerem, o conhecimento sobre a história evidencia que eles só estão ali como classe dominante por que no passado se utilizou de mão de obra escrava estrangeira, portanto, a utilização do sistema de castas é só uma propagação dessa atitude exploratória.
É curioso como o roteiro de Harbou referencia figuras míticas religiosas, fazendo paralelos com a mitologia judaico-cristã mas também com a Babilônica e Celta ao mesmo tempo, evocando um pensamento utópico de luta de classes. A trama envolvendo a construção do Maschinenmensch (ou máquina-homem) é muito curiosa, porque novamente trata de uma questão que em sua gênese é pessoal, afinal seu criador, o doutor Rotwang (Rudolf Klein-Rogge) só queria trazer sua amada de volta – a mulher que foi casada com Fredersen, e que morreu ao dar a luz a Freder – mas evolui para um quadro que viola o sagrado. Apesar de não ser um filme exatamente cristão e de misturar mitos, o filme demonstra que criatura se virará contra seu criador, e assim passará a dar ordens.
Isaac Asimov acusava a literatura de Mary Shelley de ter criado na população geral uma ojeriza por robôs, fato que ele chama de Complexo de Frankesntein. Essa sensação seria agravada pela versão protagonizada por Boris Karloff nos anos trinta, via Universal, mas em partes, a sensação de que os robôs dominariam seus criadores também encontra origem aqui em Metrópolis, embora tanto nela quanto na obra de Shelley houvesse margem para o entendimento de que a malevolência das criaturas mecânicas é herdada de seus criadores, e não o contrário. Tanto Maschinenmensch quanto o Moderno Prometheus tem esse caráter, possivelmente a Skynet de O Exterminador do Futuro e as máquinas de Matrix também o tenham.
Próximo ao final, o filme lembra o clássico de Gillo Pontecorvo, Queimada, lançado anos depois e que claramente tem como uma de suas referencias o cinema de Fritz Lang. Metrópolis é uma obra prima, mas ainda assim é um filme fruto de seu tempo, uma época em que os produtos cinematográficos buscavam um final feliz. Uma conciliação. Desse modo, o acordo entre a liderança dos trabalhadores e o capitalista é de certa forma aceitável, ainda que claramente não faça sentido. Ainda assim, pela inventividade genial e pioneira de Fritz Lang, a obra entra certamente para a história do cinema não só como exemplar a ser visto mas também como influência para inúmeras gerações de cineastas.
https://www.youtube.com/watch?v=on2H8Qt5fgA
Facebook – Página e Grupo | Twitter | Instagram | Spotify.

















 Esses exemplos não são os únicos elementos do expressionismo presentes nessa obra: o uso simbólico de espelhos como pontos de reflexão e o claro abstracionismo também se mostram como pontos chaves para comparação.
Esses exemplos não são os únicos elementos do expressionismo presentes nessa obra: o uso simbólico de espelhos como pontos de reflexão e o claro abstracionismo também se mostram como pontos chaves para comparação.











 O prédio ao centro do filme de Proyas com uma cabeça de metal gigante mimetiza a máquina coração de Fredersen do clássico de 27.
O prédio ao centro do filme de Proyas com uma cabeça de metal gigante mimetiza a máquina coração de Fredersen do clássico de 27.
 Dark City é um incrível exemplo e exercicio de estilo e efeitos especiais, que depois influenciaram filmes como a trilogia Matrix e tantos outros longas.
Dark City é um incrível exemplo e exercicio de estilo e efeitos especiais, que depois influenciaram filmes como a trilogia Matrix e tantos outros longas.