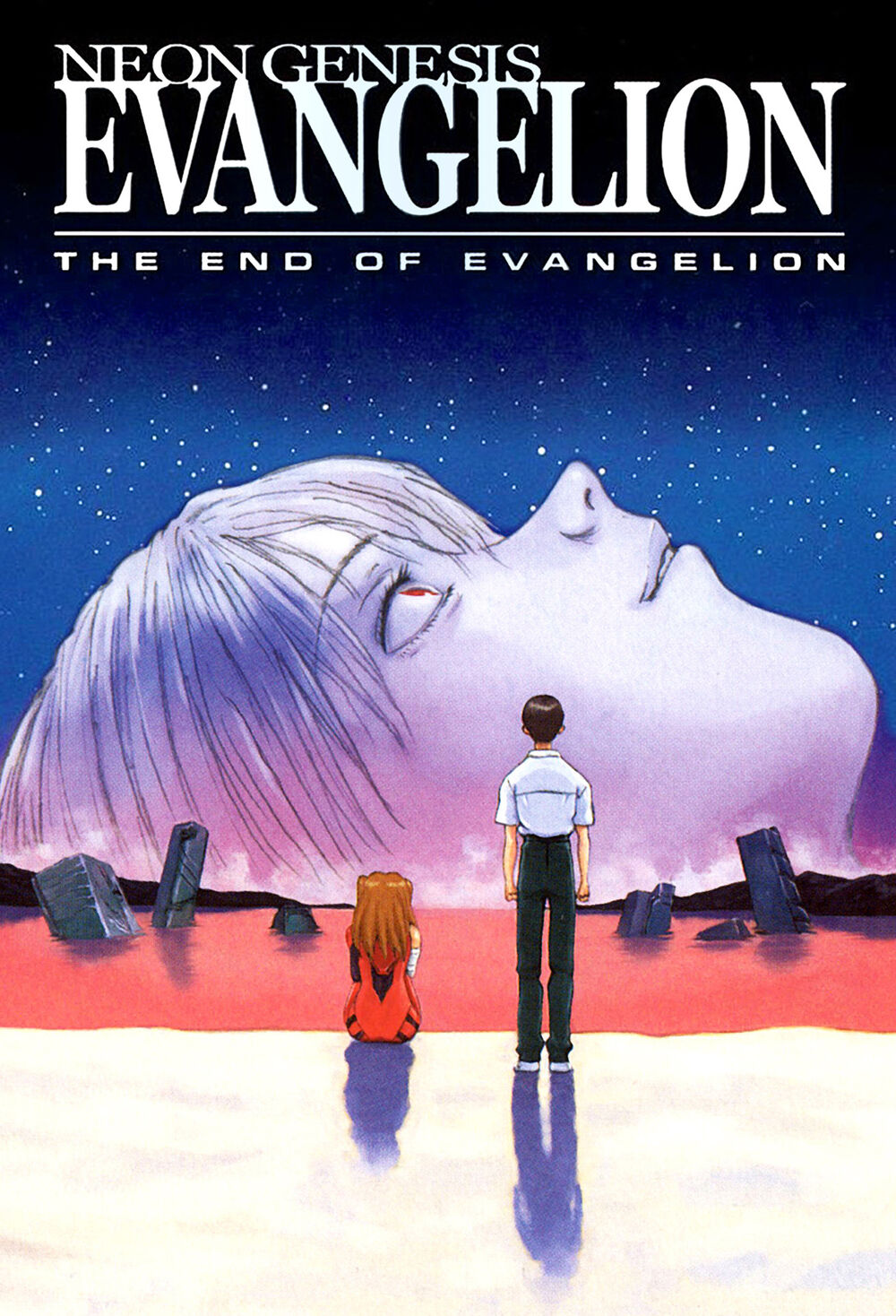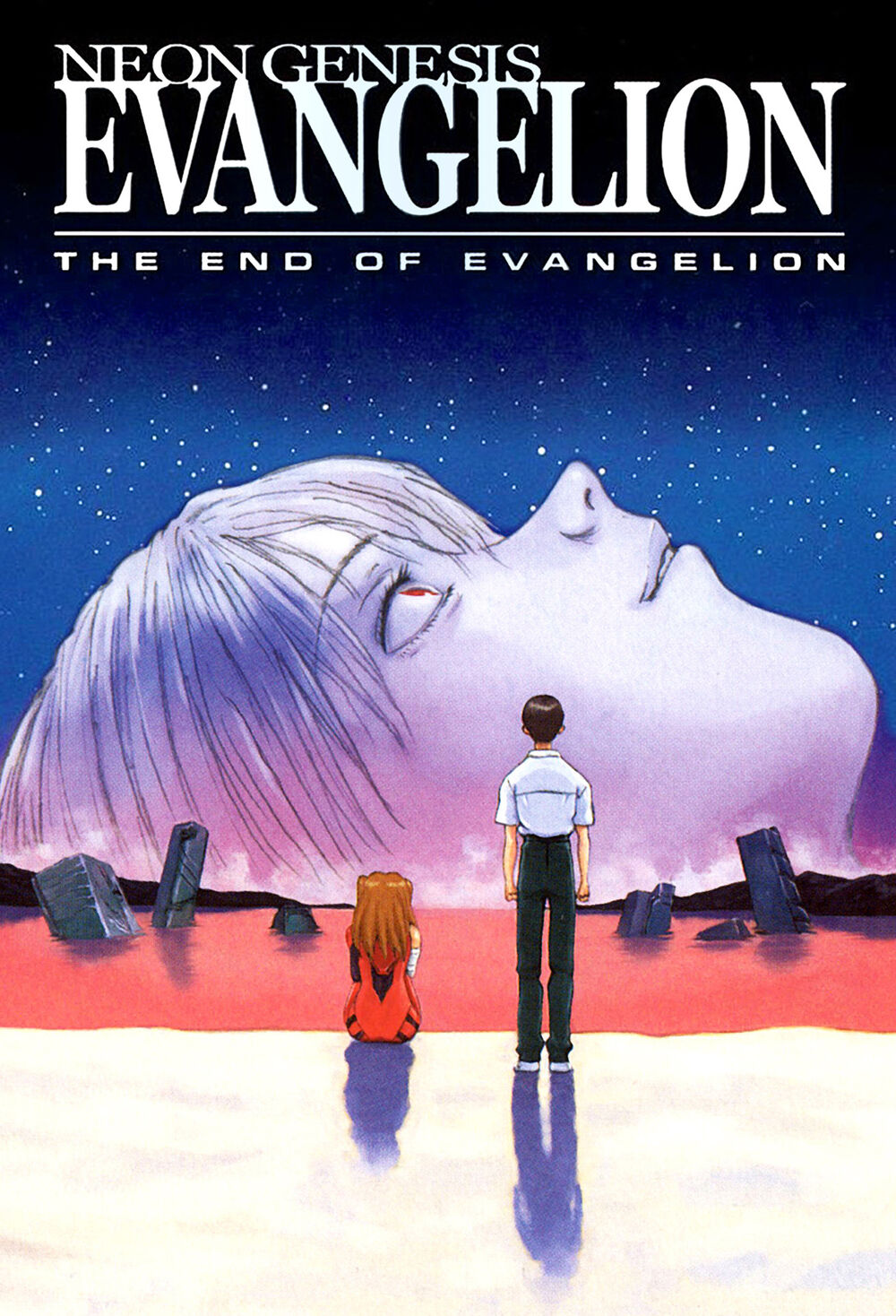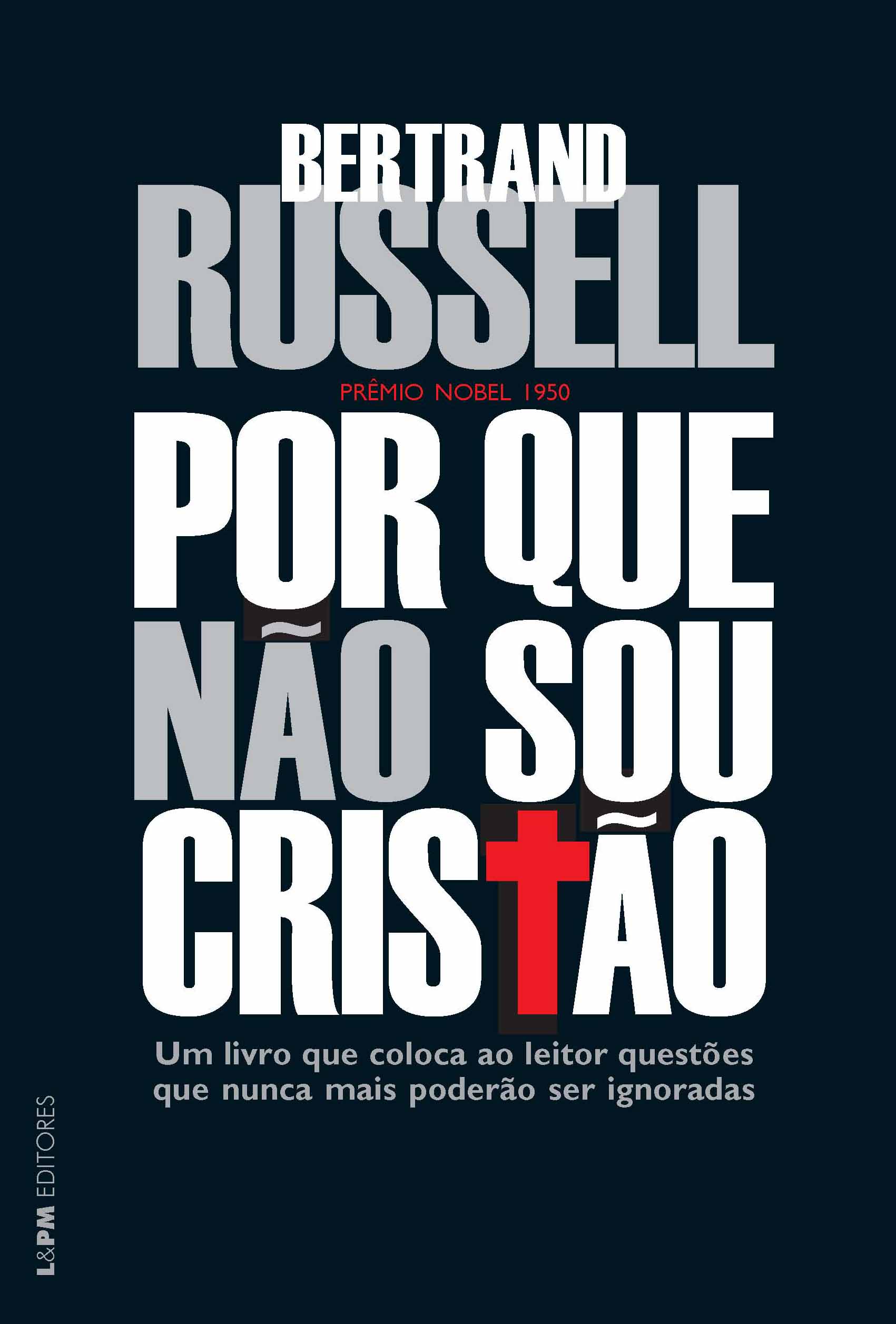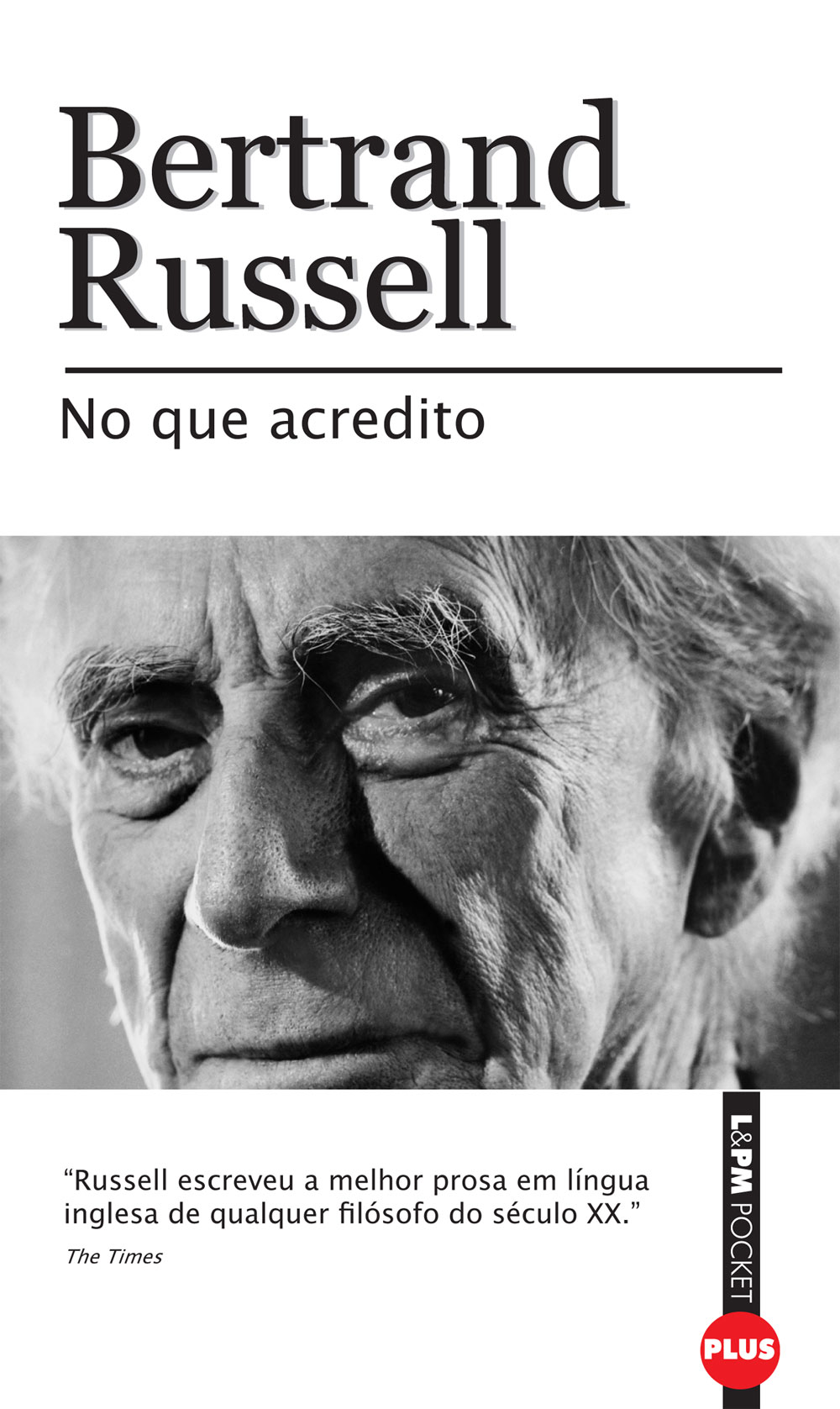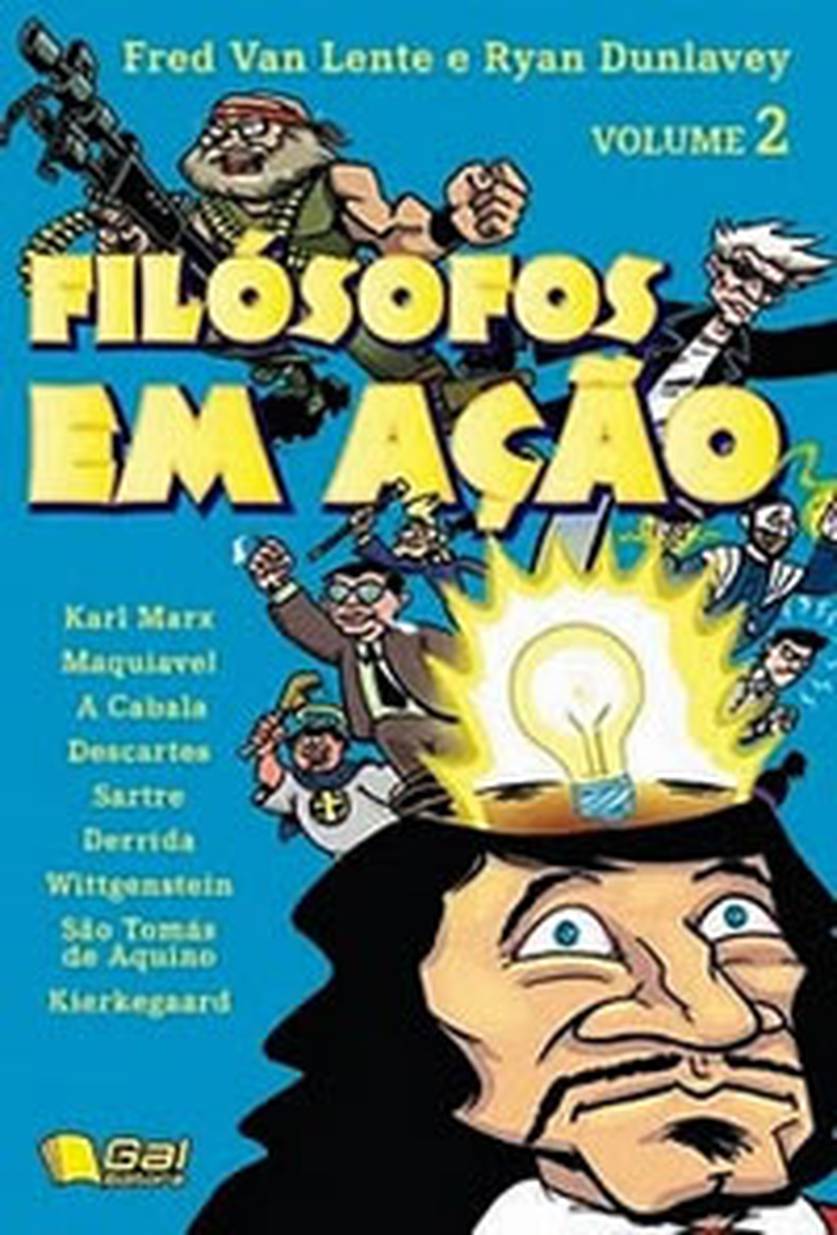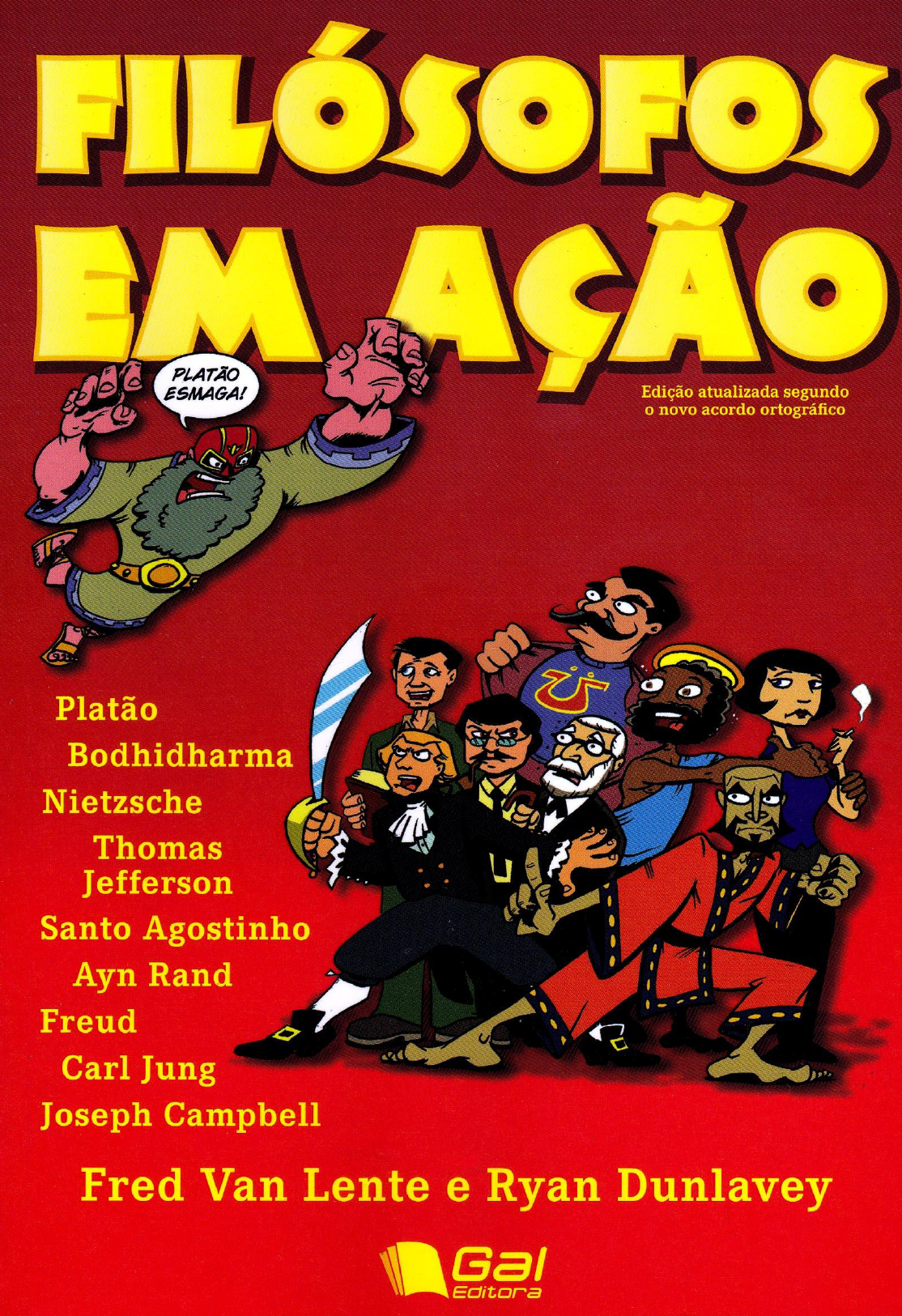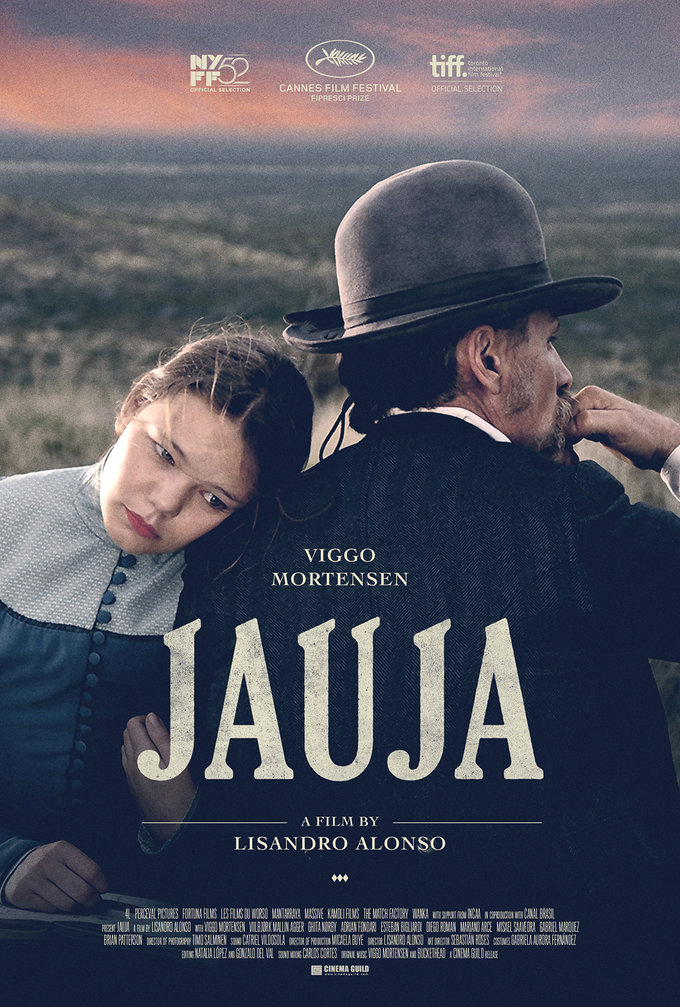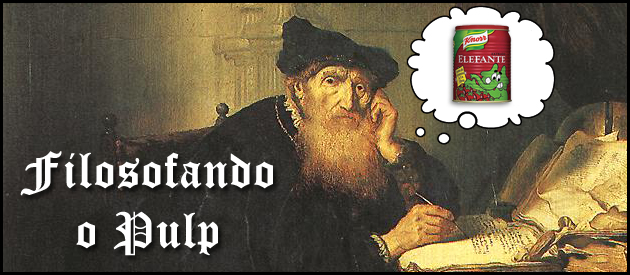Crítica | Evangelion: 1.11 Você (Não) Está Sozinho

Para quem não está familiarizado com Evangelion, este é o primeiro dos quatro filmes da série Rebuild. É uma espécie de nova versão da série clássica, que mantém a essência da história e dos personagens, mas a trama toma um rumo diferente a partir de certo ponto. Logo de cara vou responder à sua pergunta: então posso assistir aos Rebuild sem ter visto o anime? Olha, você pode fazer muitas coisas em sua vida, porém há consequências desastrosas para determinados atos. Por isso eu te respondo que sim, você pode assistir primeiro ao Rebuild, ainda que não seja o recomendado.
Por que não? Acredito que muita gente pode ficar perdida se não estiver familiarizada com diversos conceitos da série. A série, assim como o anime clássico, mostra que a humanidade está sendo atacada por seres gigantes chamados Anjos, combatidos pelos EVA, robôs gigantes humanoides muito poderosos construídos pela entidade militar Nerv. Porém, quem pilota os robôs são adolescentes na faixa dos quinze anos. Um deles é Shinji, que acaba de chegar a Tokyo 3 convocado por seu pai, comandante na Nerv. O grande objetivo é impedir o Terceiro Impacto, evento que exterminaria o resto da humanidade, já que boa parte dela já foi exterminada pelo Segundo Impacto, um meteoro (?!) que caiu na Antártida no ano 2000. A história se passa no longínquo futuro de 2015.
Aí você pensa: por que um moleque de 15 anos, sem experiência alguma de combate, vai pilotar um robô que provavelmente custou bilhões? Detalhe que Shinji e seu pai não se falam há anos, e o garoto está claramente sendo apenas um objeto nas mãos do pai. São estes aspectos humanos que destacam Evangelion.
Quem assistiu ao anime vai perceber que a maior parte deste filme é praticamente igual à série. Pelo menos os acontecimentos, pois a qualidade de animação e imagem é muito melhor. Mas as diferenças vêm em detalhes. Por exemplo, aqui o mar já está todo vermelho. O design de alguns Anjos mudaram, apesar de a ideia ser quase a mesma. Shinji está um pouco menos introvertido. Rei parece mais humana. PenPen está mais engraçado. A Misato… bem, continua bebendo muito!
Entretanto, outros detalhes sinalizam mudanças consideráveis. Um deles é a quantidade de Anjos previstos para aparecer, que aqui é menor. O fato de a Nerv guardar um Anjo em sua base não é mistério aqui, e desde o início eles já sabem que aquele não é Adão. Só esses dois elementos já permitem perceber que Rebuild não é apenas a série clássica com animação melhor.
O filme se desenvolve bem, mas dá a impressão de que é apressado demais, e isso talvez deixe os novatos perdidos. Porém, acaba sendo um filme enxuto, onde praticamente tudo que é mostrado tem relevância. Por isso é uma boa pedida assistir mais de uma vez. Repito, recomendo assistir ao anime e a The End of Evangelion primeiro. Mas se quiser fazer um teste, este é um ótimo começo, o filme é bastante similar à série clássica. Se não conseguir absorver muito bem os conceitos e ideias deste filme, assista ao anime e depois tente novamente.
A periodicidade da série Rebuild é bastante similar à do mangá: literalmente demorou mais de uma década para ser concluída. Este primeiro filme é de 2007. O segundo é de 2009. O terceiro, de 2012. Já o quarto e último, saiu apenas agora, em 2021. O lançamento ocorreu na Amazon Prime Video, que disponibilizou todos com a mesma dublagem brasileira da série clássica disponível na Netflix.
Evangelion 1.11 não trouxe mudanças muito bruscas, e prepara o fã antigo para uma chuva de batalhas. Os próximos filmes, meus amigos… se preparem.