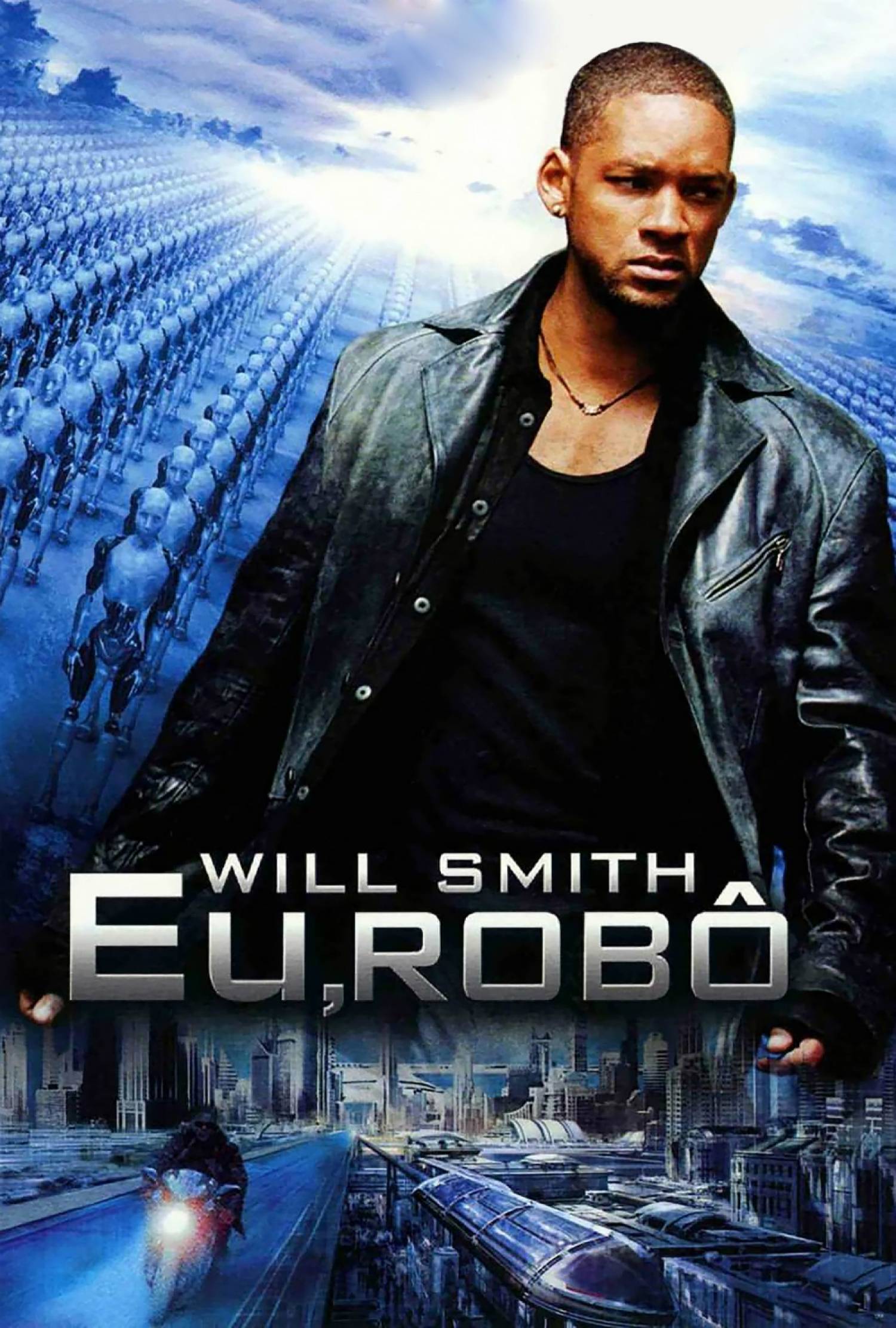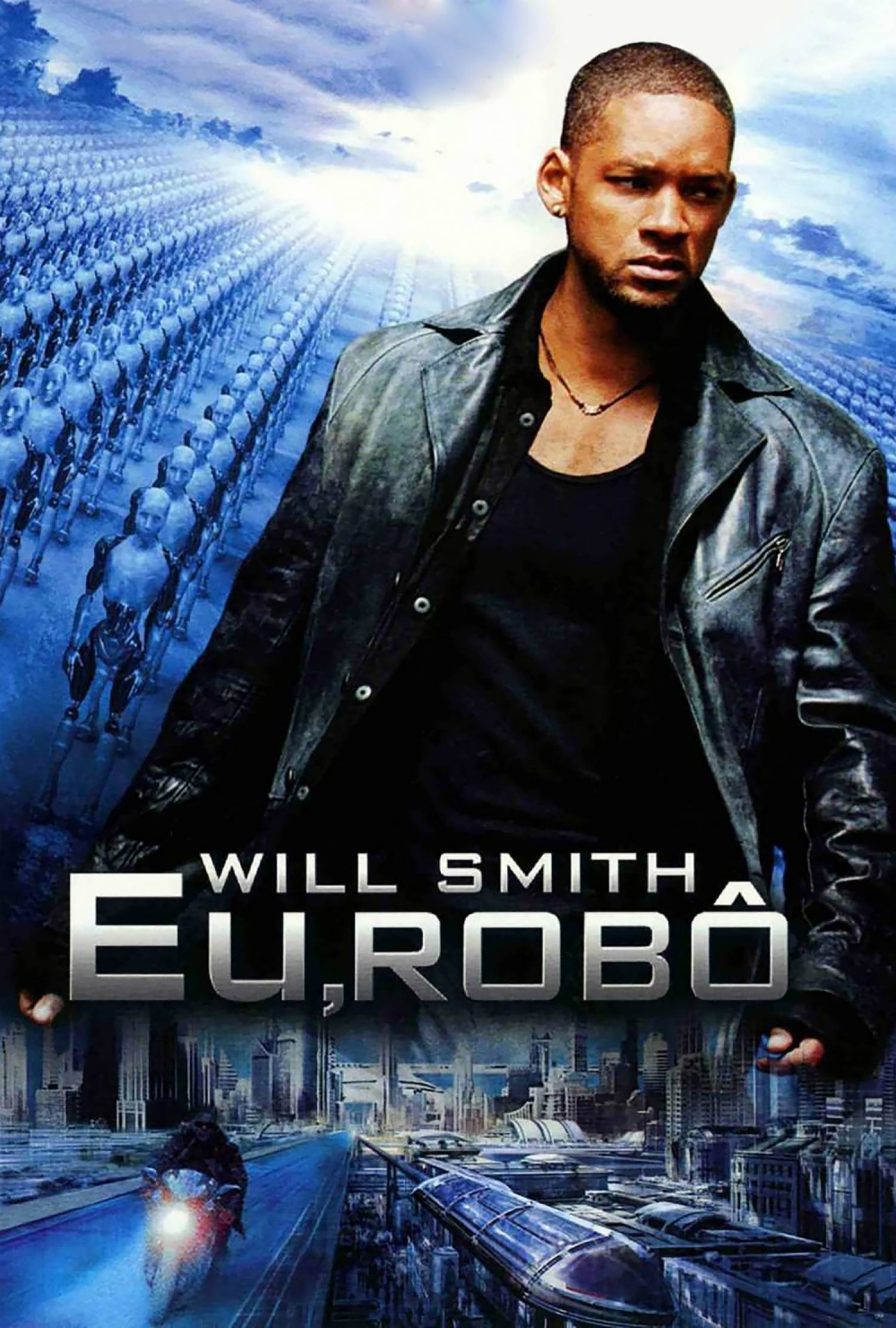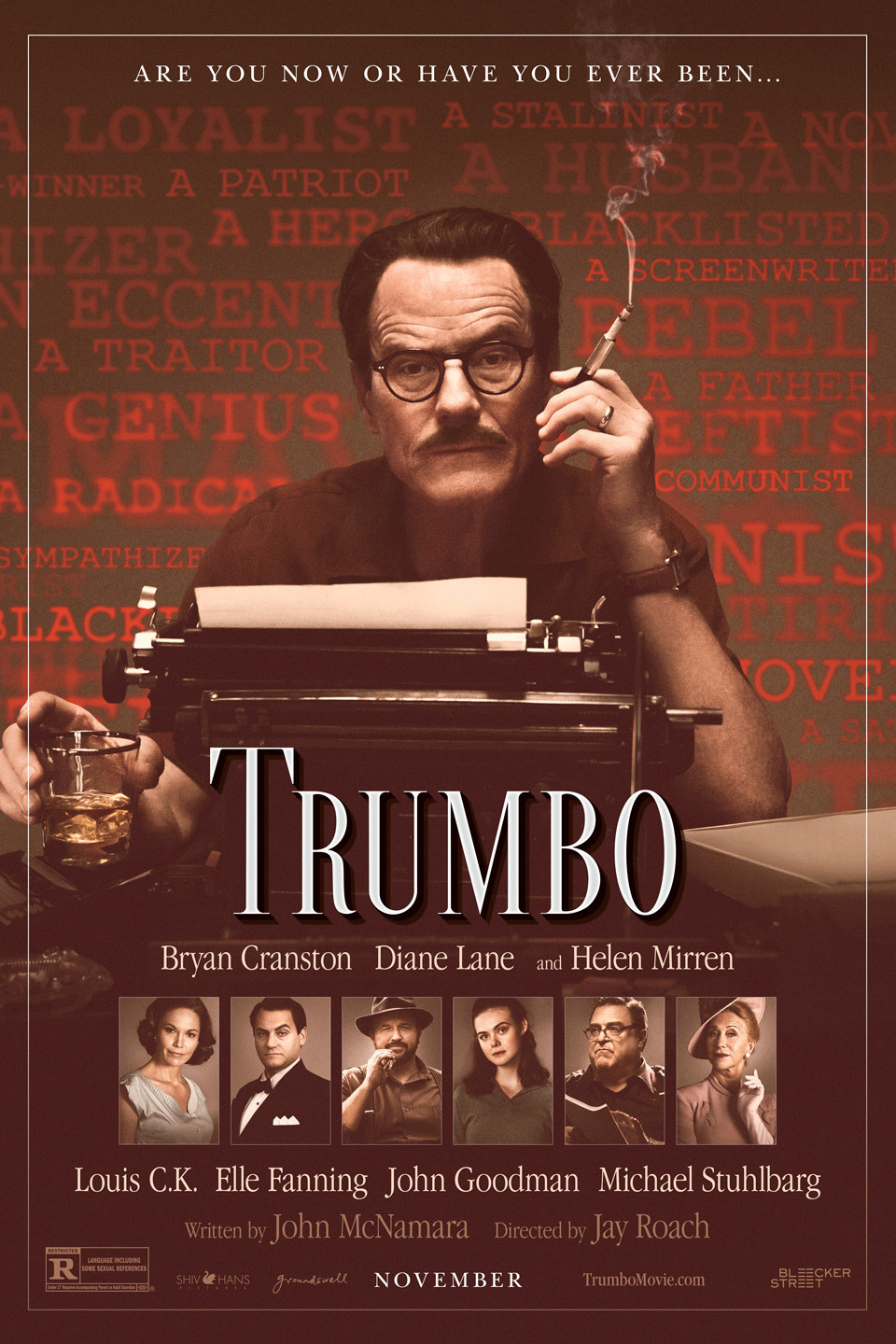Review | Patrulha do Destino – 1ª Temporada

A primeira temporada de Patrulha do Destino prometia traduzir em tela todo o nonsense dos quadrinhos da equipe, sobretudo da fase de Grant Morrison à frente dos roteiros. A série capitaneada por Jeremy Carver e produzida Greg Berlanti, Geoff Johns e outros, tem 15 episódios nesse primeiro ano, e mostra um grupo de desajustados com poderes.
O episódio piloto estabelece a mitologia, introduz o personagem de Timothy Dalton, chamado apenas de “O Chefe” e todos os seres estranhos que o cercam. Após essa gênese, o que se vê é uma batalha cósmica, que abusa de efeitos especiais, muito bem trabalhados. O turbilhão que se contrapõe aos quatros meta humanos – Crazy Jane (Diane Guerrero), Mulher Elástica (April Bowlby), Homem-Robô (dublado por Brendan Fraser e manipulado por Riley Shanahan) e Homem-Negativo (Matthew Zuk) – é seguido de reações diversas, variando entre a histeria pela surpresa do possível fim da vida e tentativas vazias de controlar o ímpeto, afinal, o que se vê é algo grande demais para ser ignorado.
Boa parte do acerto do seriado é que seus personagens mesmo sendo sobre-humanos, são imperfeitos, são repletos de complexos e se autossabotam o tempo inteiro. Cada um deles têm algum momento em que se torna o herói de sua própria jornada, com tempo e desenvolvimento que certamente fazem inveja a Chris Terrio, David S. Goyer e demais roteiristas da DC nos cinemas. Mesmo quando tem partes narradas, há um bom motivo para acontecer, normalmente movido pela metalinguagem de ser feita por Alan Tudyk, que interpreta o Sr. Ninguém.
Uma das dúvidas em relação a composição do grupo era a presença do Cyborg (Joivan Wade) que jamais fez parte do grupo, e que não esteve no seriado dos Titans. Sua origem é a mais graficamente pesada da série, não há medo ou receio de parecer adulta e é muito mais bem resolvida que outras adaptações envolvendo o personagem.
A primeira temporada tem como temática principal as obsessões. Victor tenta não ser manipulado, seja por vilões ou pelos laboratórios Star, Jane busca desesperadamente um equilíbrio, Cliff tem que lidar com a substituição parental que sua filha fez da figura paterna e Rita tenta se reinventar mesmo tendo perdido o aspecto físico que a tornava especial décadas atrás. Eles são na verdade um grupo de freaks, que precisam conviver, como forma de terapia.
Não há um episódio que o espectador não se assuste com algum um aspecto dramático ou visual, sempre há surpresas tresloucadas, tão irreais que soam charmosas. O estranhamento que a série causa se assemelha ao visto em Legion, ainda que a abordagem se dê por um viés diferente, com camadas mais profundas.
O elenco tem um desempenho primoroso, Tudyk e Dalton desempenham magistralmente as figuras arquétipo do vilão e mentor, enquanto Fraser, Guerrero e Bowlby estão afiadíssimos. O fato do trio não ter pudor em se apresentar como figuras jocosas só acrescenta à trama. A intérprete da Mulher Elástica surpreende, pois foge da simples figura de mulher linda que foi coadjuvante em Two And a Half Men para se tornar frustrada, complexa, e ainda assim, apaixonante. Sua Rita Farr é incrível, mesmo sendo digna de pena, seu drama é de fácil compreensão, bem como sua vocação para ser uma espécie de mentora do grupo de desajustados, na ausência de Dalton.
Mesmo as coisas implausíveis fazem sentido. Todas as razões mesquinhas são lógicas, e mostram que os heróis podem ter ações canalhas e anti-éticas, para além da construção do anti-herói clássico, ou dos comentários ácidos de materiais que visam parodiar mais incisivamente o conceito dos quadrinhos da Marvel e DC, como Garth Ennis fez em The Boys. O resultado final de Patrulha do Destino em seu primeiro ano é algo seminal, não subestima os seus espectadores e mostra uma história onde praticamente todos os personagens odeiam a si mesmo e ainda assim tem de conviver com essa situação.