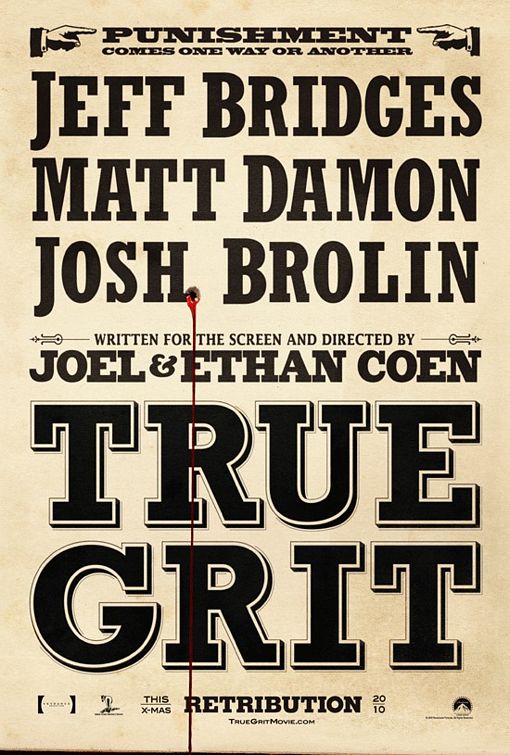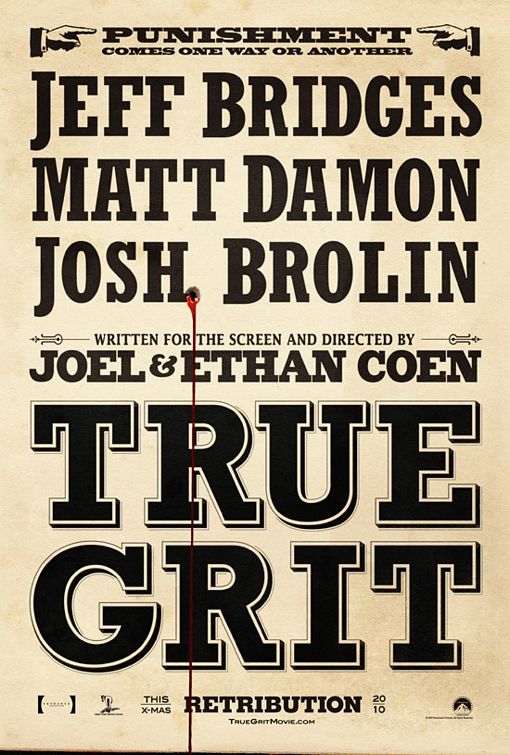Crítica | King Kong (1976)

A versão de John Guillermin para King Kong foi um sucesso estrondoso em 1976, bastante popular e, para muitos, é a versão definitiva do personagem. O filme produzido por Dino de Laurentis, contumaz colaborador de sucessos italianos e de Hollywood, mostra um cenário novo não literalmente, afinal o macaco gigante está na mesma ilha da versão de 1933, mas sim em sociedade. Sobram ainda o mesmo espírito de aventura do clássico, começando a trama em um navio em Surubaya, na Indonésia, invadido pelo protagonista humano do filme, Jack Prescott (Jeff Bridges), que já em suas primeiras cenas parece não ter as mesmas ideias dos outros tripulantes do navio petroleiro.
A tripulação é formada por homens simples e de poucas ambições, tanto que Jack com sua lábia cafajeste consegue enrolar facilmente os marinheiros e líderes da expedição, especialmente quando se toca o assunto sobre a neblina misteriosa que os encontrará em breve segundo o mapa que seguem. Ele passa do sujeito que poderia ser jogado no mar para um dos líderes do grupo. Mesmo antes de chegar a península, o navio encontra uma bela mulher no mar, que vem a ser Dwan, uma atriz que sobrevive a outra excursão e que é vivida por Jessica Lange no auge da beleza, ainda como uma atriz estreante. Esses personagens, de origens e comportamento completamente diferentes formam um grupo heterogêneo e que surpreende por combinarem tanto.
O cenário onde vive o macaco é explorado de maneira lenta e paciente. Há uma certa cautela da produção em não estereotipar tanto o povo indígena. Por mais que se paramentem de forma caricata e clichê, os nativos não são tolos, tem esperteza e até um planejamento estratégico de contra ataque, exemplificado pelo ataque ao navio onde se encontram os ocidentais desbravadores.
Guillermin é bastante inventivo na hora de apresentar a criatura gigante. Primeiro, aborda o cenário segundo os olhos de Kong, derrubando árvores com galhos enormes (esse aspecto se tornaria tão popular que seria usado na abertura do clássico de comédia Família Dinossauro), até chegar ao sacrifício que os aldeões darão a ele. Segundo, pelo uso da trilha sonora de John Barry, que é colocada em momentos certos, para criar tensão até a aparição do Kong de fato. E, finalmente, em terceiro, a confecção do símio de 13 metros de altura também é eficiente. A percepção de que se trata de um colosso e um mito vivo é automática, condiz com a ideia que os criadores tiveram nos anos 30. Outra característica curiosa é que Kong varia de tamanho, aumentando para 17 metros quando está em Nova York.
A produção não foi só um sucesso de bilheteria mas também bastante premiada pelos efeitos visuais, pelo som e também por revelar Jessica Lange para o cinema mundial. Há claro algumas fragilidades típicas da época, em alguns pontos o fundo verde é bem evidente, mas a variação entre mecatrônico e alguém fantasiado é feita de maneira fluída, bem a frente de seu tempo.
Esse filme possui uma continuação infame, King Kong – A Aventura Continua de 1986 que mostra o macaco tendo um filho, sofrendo de problemas cardíacos, acompanhado de uma cientista vivida por Linda Hamilton que acabava de sair de O Exterminador do Futuro. Nele, a história é ridícula, mal pensada, não há conflito estabelecido ou razão para acontecer, diferente desta versão.
O King Kong de John Guillermin consegue ser um bom filme de ação, tem personagens carismáticos, bons coadjuvantes, uma história cativante, divertida e marcou sua época, ajudou a popularizar ainda mais o rei dos macacos, apresentando-o a uma nova geração de espectadores.