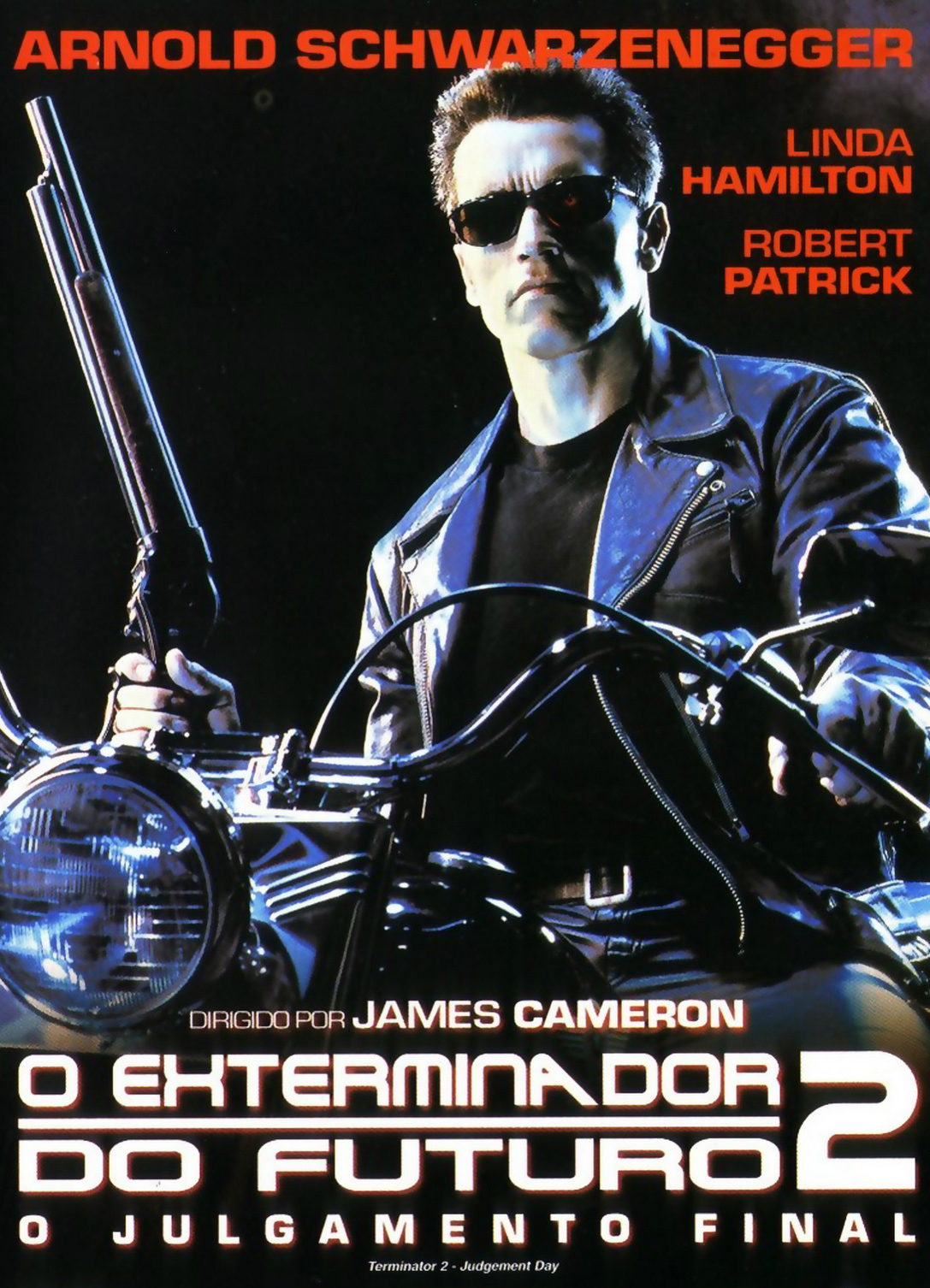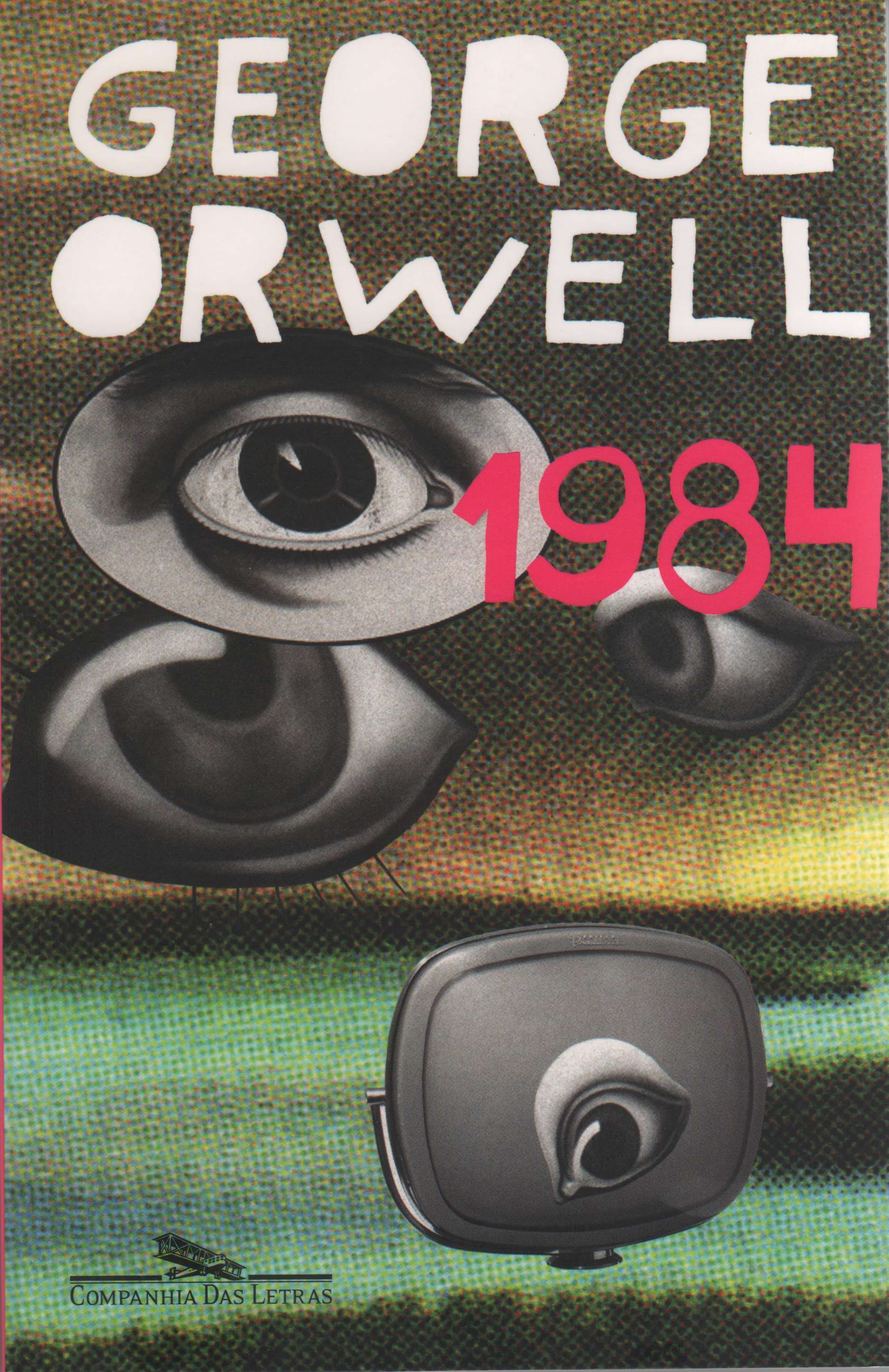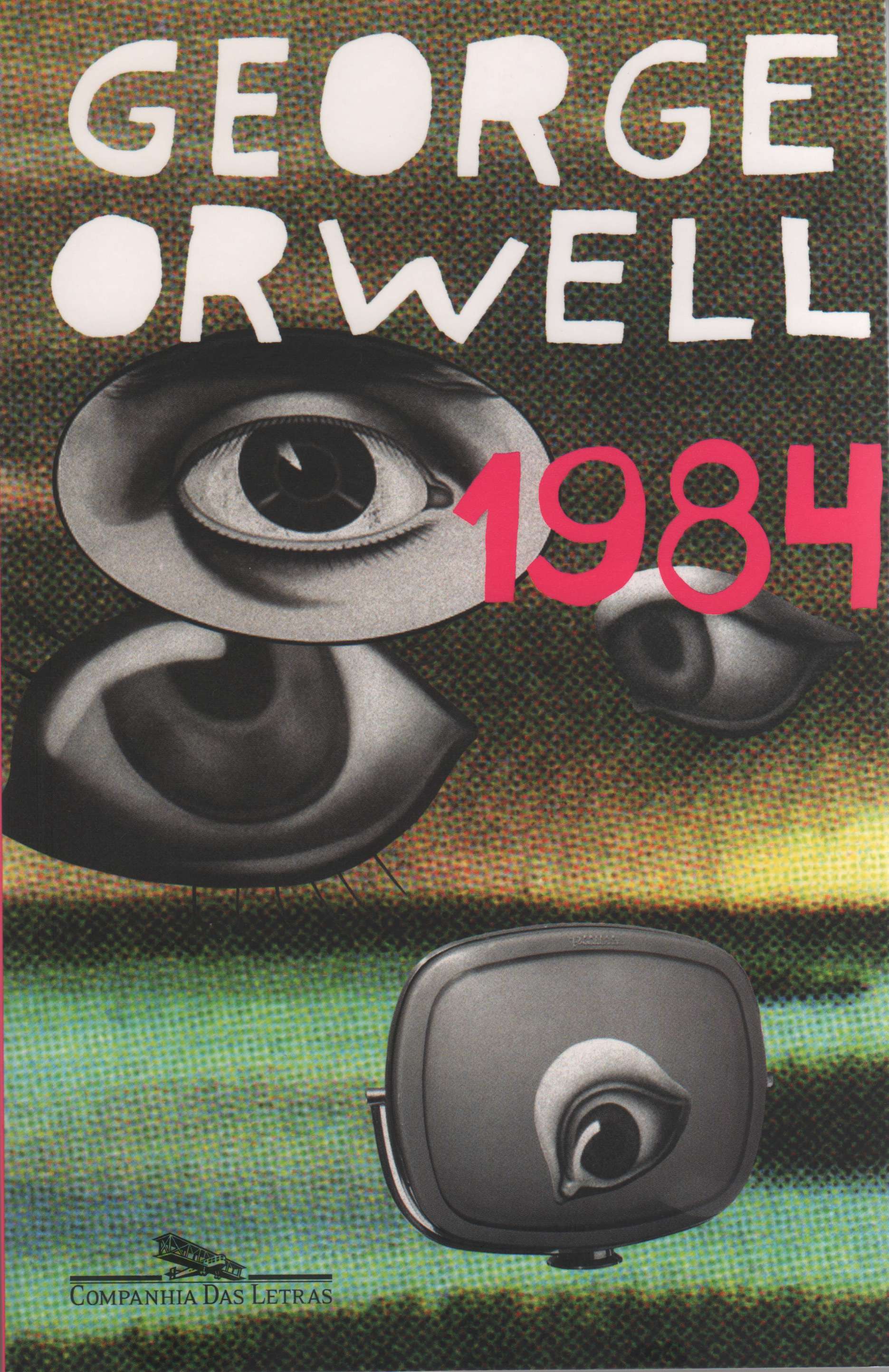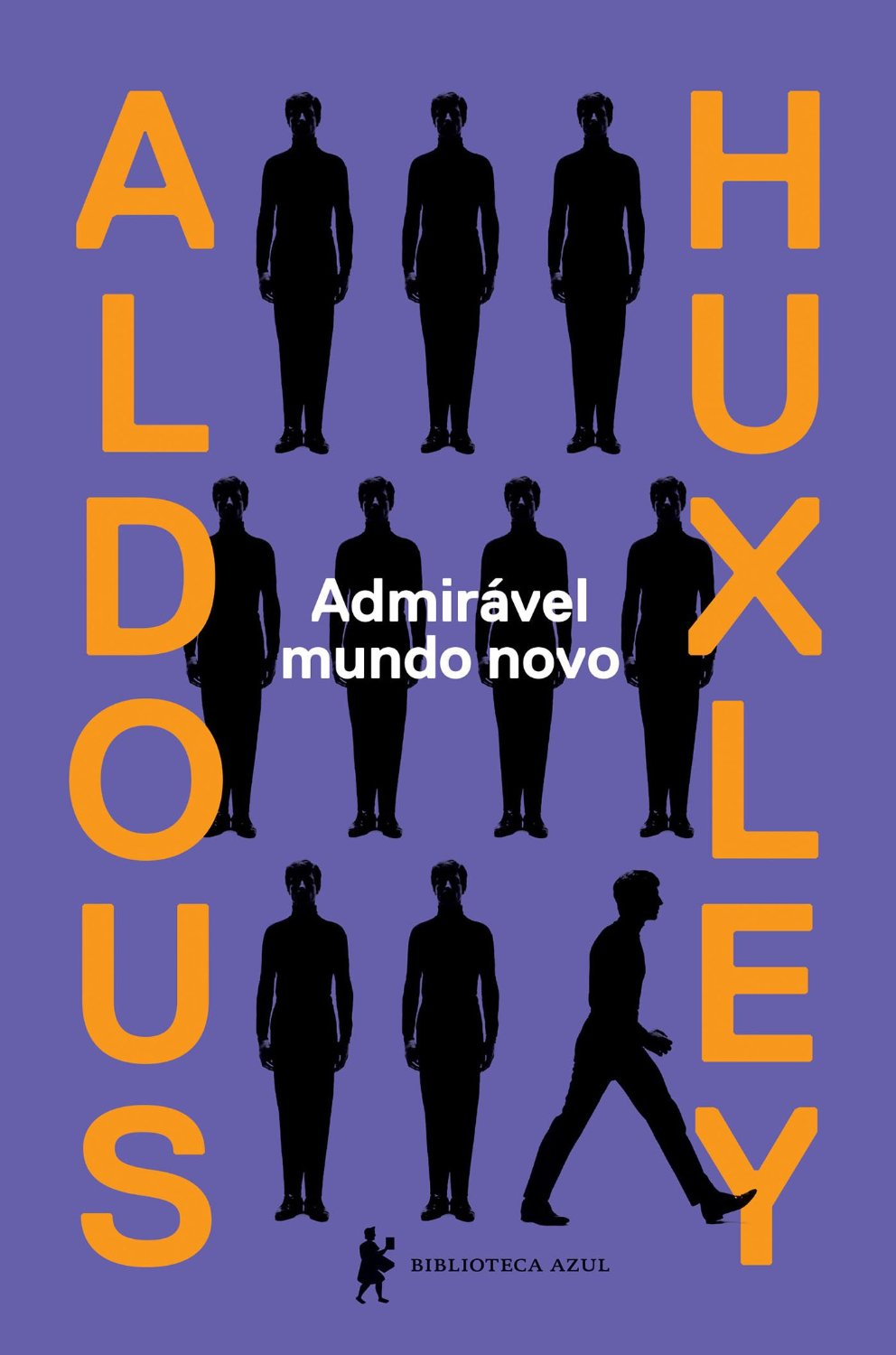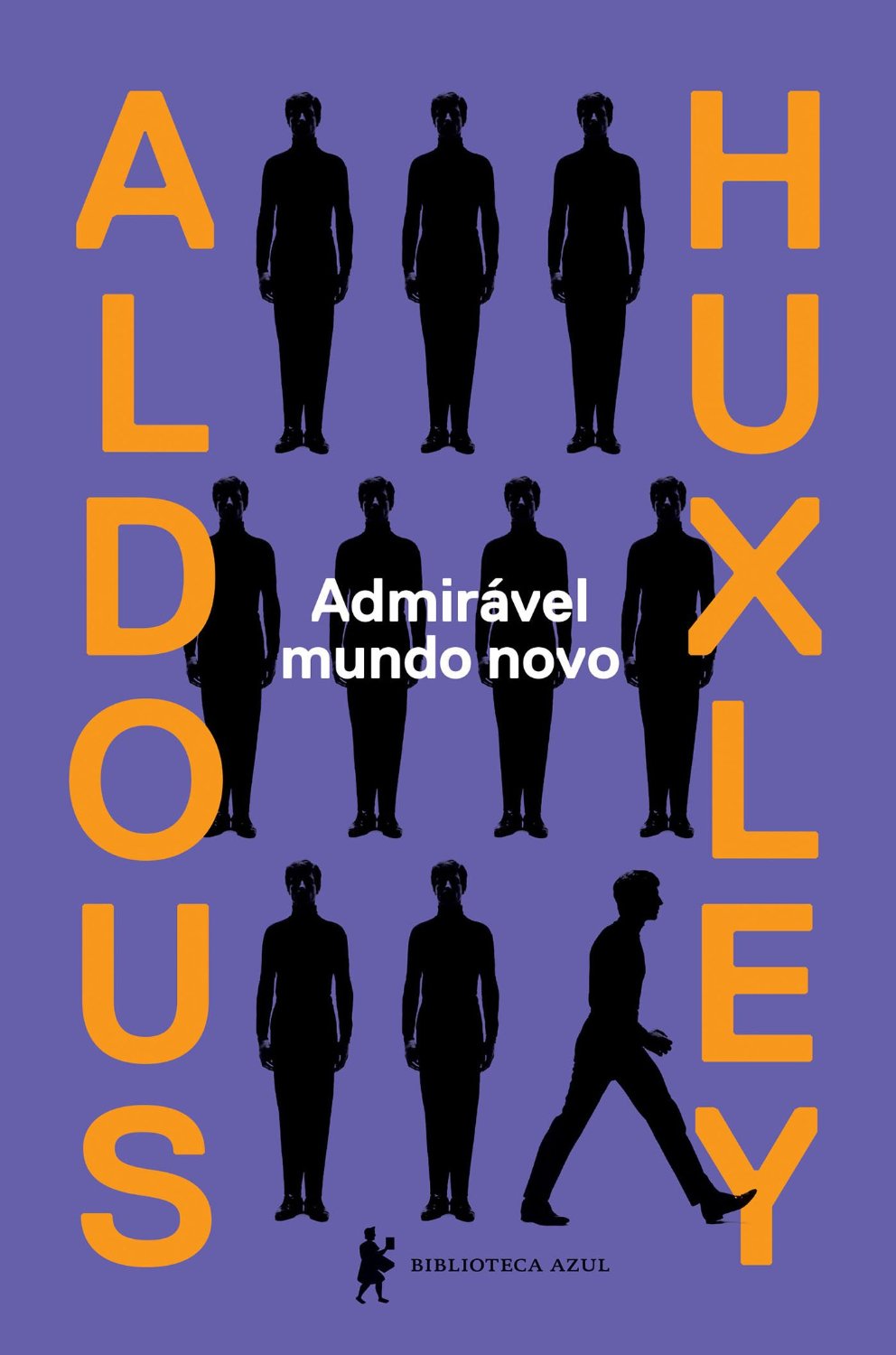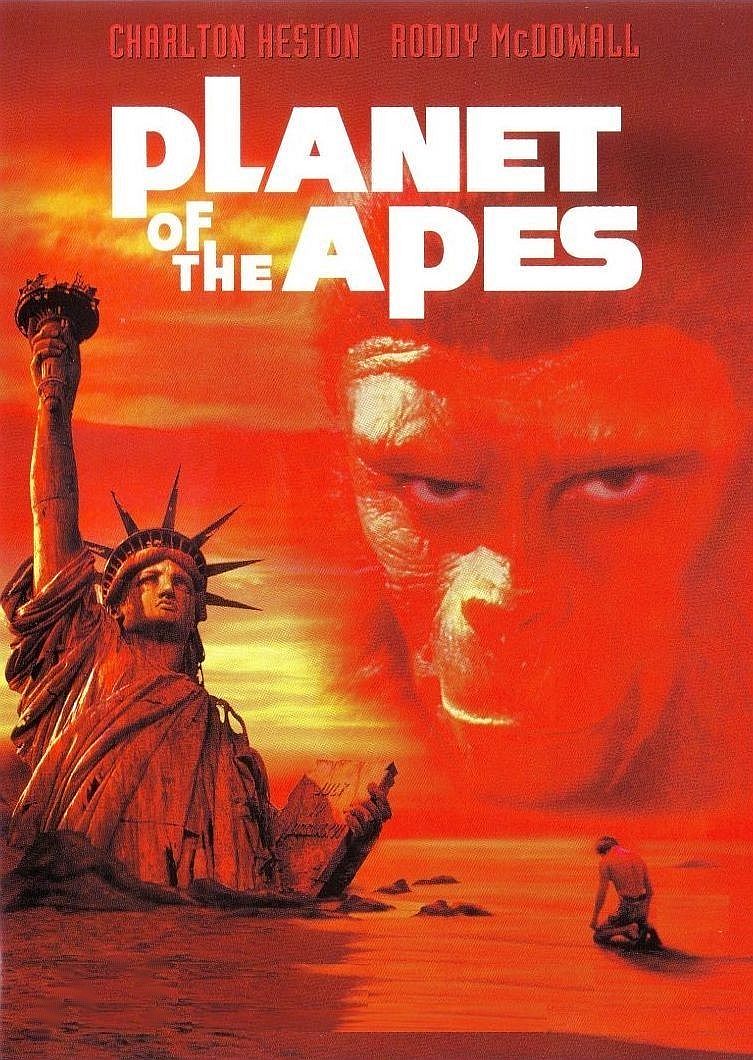Crítica | O Exterminador do Futuro: Gênesis
Reiniciando a saga, pensada após o abandono de James Cameron a sua obra mais notória, O Exterminador do Futuro: Gênesis se baseia no que deu certo antes, resgatando nostalgicamente o futuro negro onde habitavam John Connor e Kyle Reese, claro, repaginando absolutamente tudo. Os novos intérpretes da dupla são Jason Clarke, como o pretenso salvador do lado humano da guerra, contracenando Jai Courtney, que faz Michael Bien, ainda que não seja tão deslocado quanto o primeiro Reese.
A narração feita por Courtney serve de alerta para qualquer desavisado: o universo da franquia foi de novo modificado. Um longo tempo é gasto mostrando o modo de operar da resistência, nos anos de escravidão dos humanos. A tomada de poder por parte dos homens é apresentada em detalhes, incrivelmente bem realizados, em termos de cenas de ação, por Alan Taylor, que consegue não reprisar de modo tão tosco os erros de seu Thor: O Mundo Sombrio.
A problemática do roteiro de Laeta Kalogridis e Patrick Lussier se nota essencialmente quando a trama passa a ocorrer pelos idos de 1984, época do primeiro O Exterminador do Futuro. A ação frenética invade a tela, inclusive fazendo referência ao vilão de O Exterminador do Futuro: O Julgamento Final, mostrando que as linhas temporais estão todas misturadas, fazendo mais uma bagunça com os personagens pensados por Cameron e Gale Anne Hurd.
A miscelânea de citações inclui desde o terceiro episódio da franquia até os ditos do malfadado seriado The Sarah Connor Chronicles, inclusive com uma cena idêntica a do piloto do seriado, envolvendo uma das muitas viagens temporais do filme, artigo este que se torna banal, de tão comum.
A apresentação de Arnold Schwarzenegger é interessante, mesmo com a quantidade de clichês que ele profere, repetindo inúmeras vezes a frase de que é apenas “velho, não obsoleto”. Pelo fato de ser um filme de ação, as frases de efeito não são um incômodo, se tornando irrelevantes graças à premissa empolgante, com outras tantas cenas de ação bem orquestradas.
Há certo subtexto inteligente, além da discussão sobre a necessidade do homem em estar conectado o tempo inteiro – especialmente pela evolução que a Ciberdyne e o método de controle Genesys, um conceito novo na franquia, mas antigo desde os cyberpunks de Gibson. Outro aspecto positivo é a tentativa de multifacetar o Exterminador de Arnold, chamado por Sarah carinhosamente de “Papi”. Mas o entorno não corrobora na mesma qualidade, nem por parte da famosa Emilia Clarke, que exala sensualidade mas carece de talento dramatúrgico.
O aspecto mais digno de críticas é o fato das viagens no tempo se tornarem comuns, defeito copiado do seriado. Ao final, o reboot se assemelha a um retcon tosco, especialmente na virada que sofre o personagem de Jason Clarke, já tratado como vilão nos trailers, pôsteres e materiais promocionais do filme. Qualquer efeito surpresa e expectativa positiva são encerrados neste ponto. A quantidade exorbitante de coincidências faz inclusive Arnold parecer deslocado em pedaços da trama.
Apesar do belo grafismo apresentado na fita, há sérios problemas de lógica no argumento final, como o lançamento de T800 com máquinas tão melhores disponíveis, curiosamente reprisando os erros de O Exterminador do Futuro: A Salvação. No final da epopeia, fica o lamento pelas recaídas nos mesmos clichês, além da enfadonha questão de repetir o gancho para novas continuações – previstas até então para se ter mais dois filmes. A direção de Taylor não compromete o produto final, mas também pouco acrescenta, graças a um roteiro atrapalhado. Ao menos, no quesito diversão, a franquia retorna aos bons tempos. Ainda que não seja nada semelhante ao brilhantismo da fase de James Cameron como diretor.