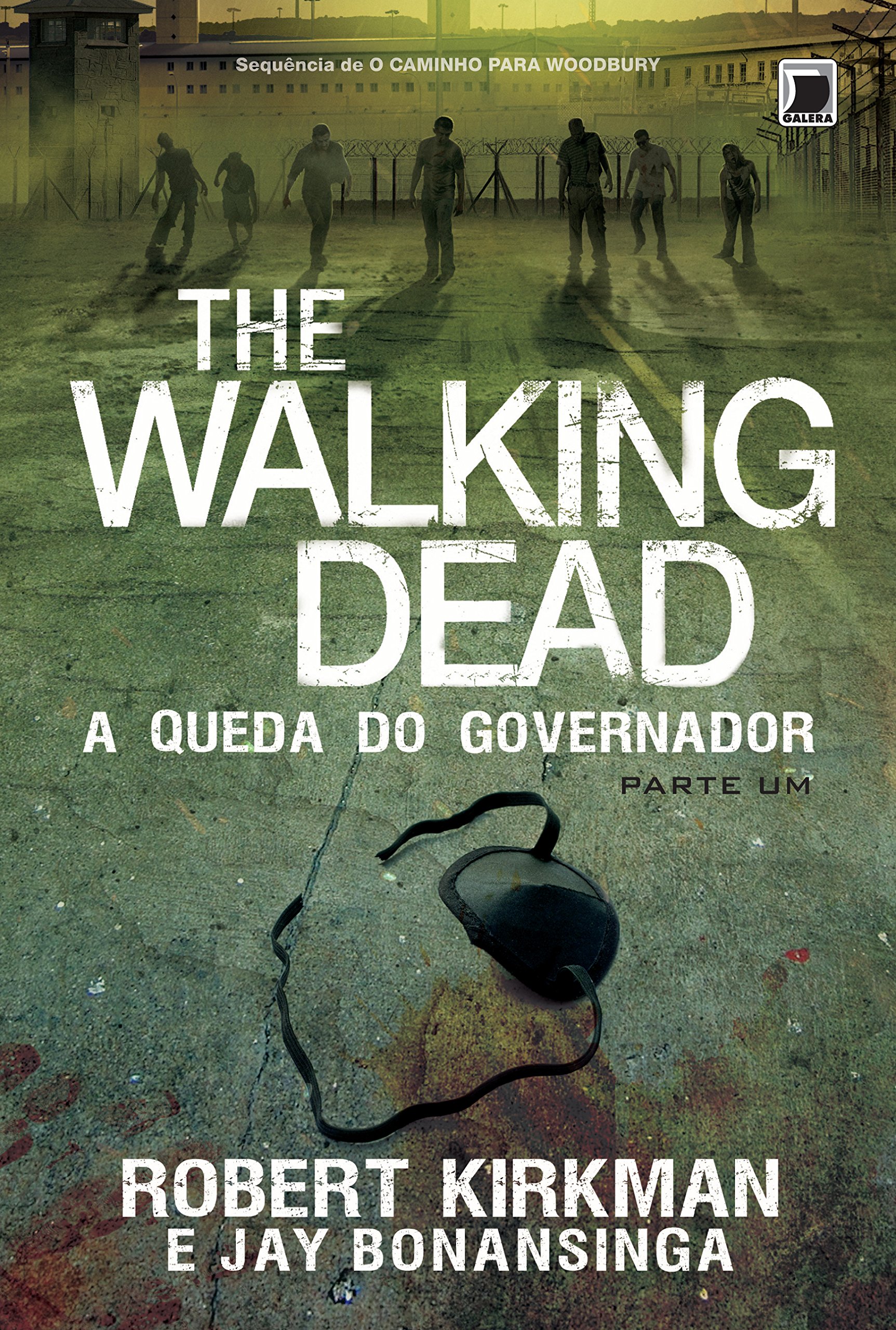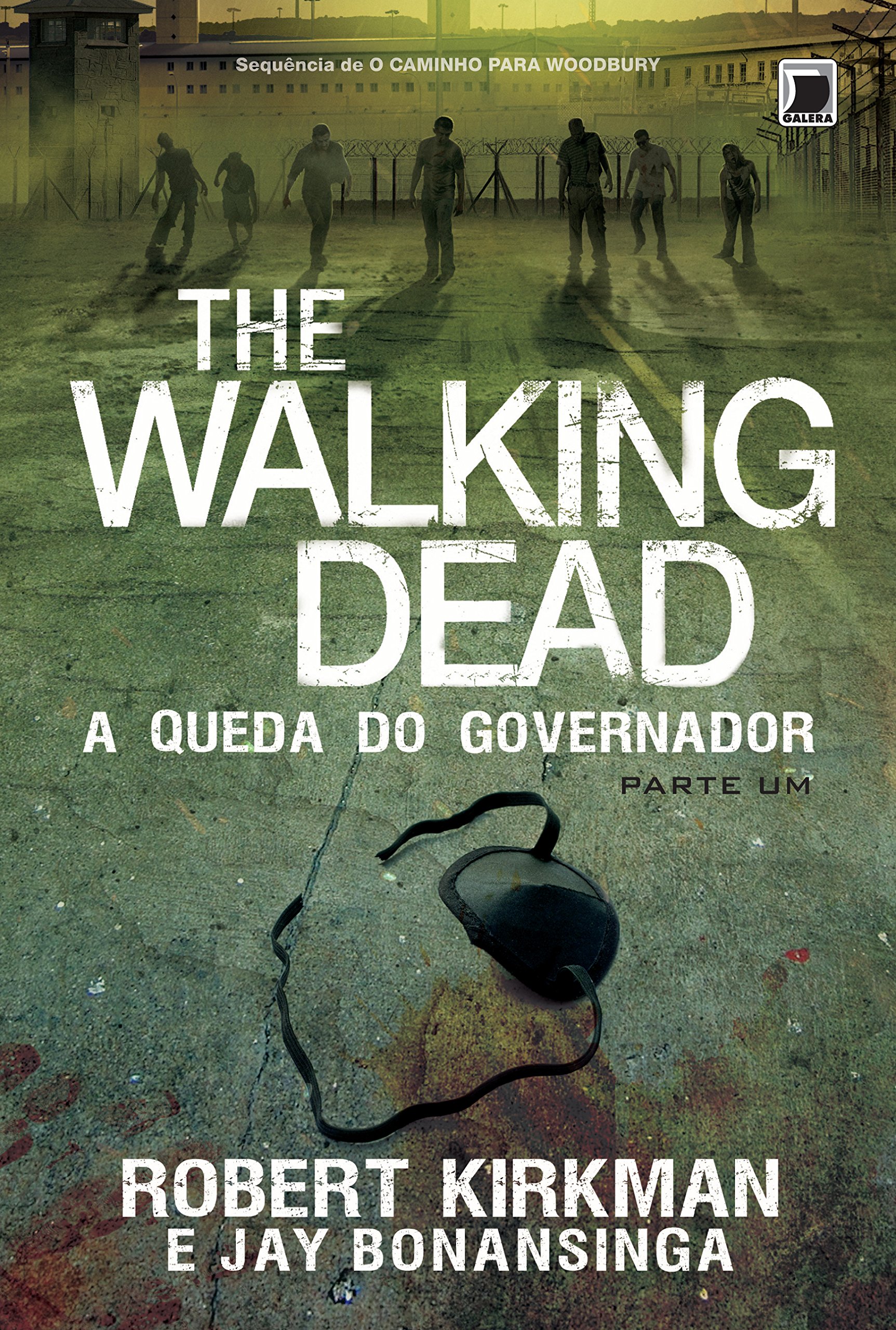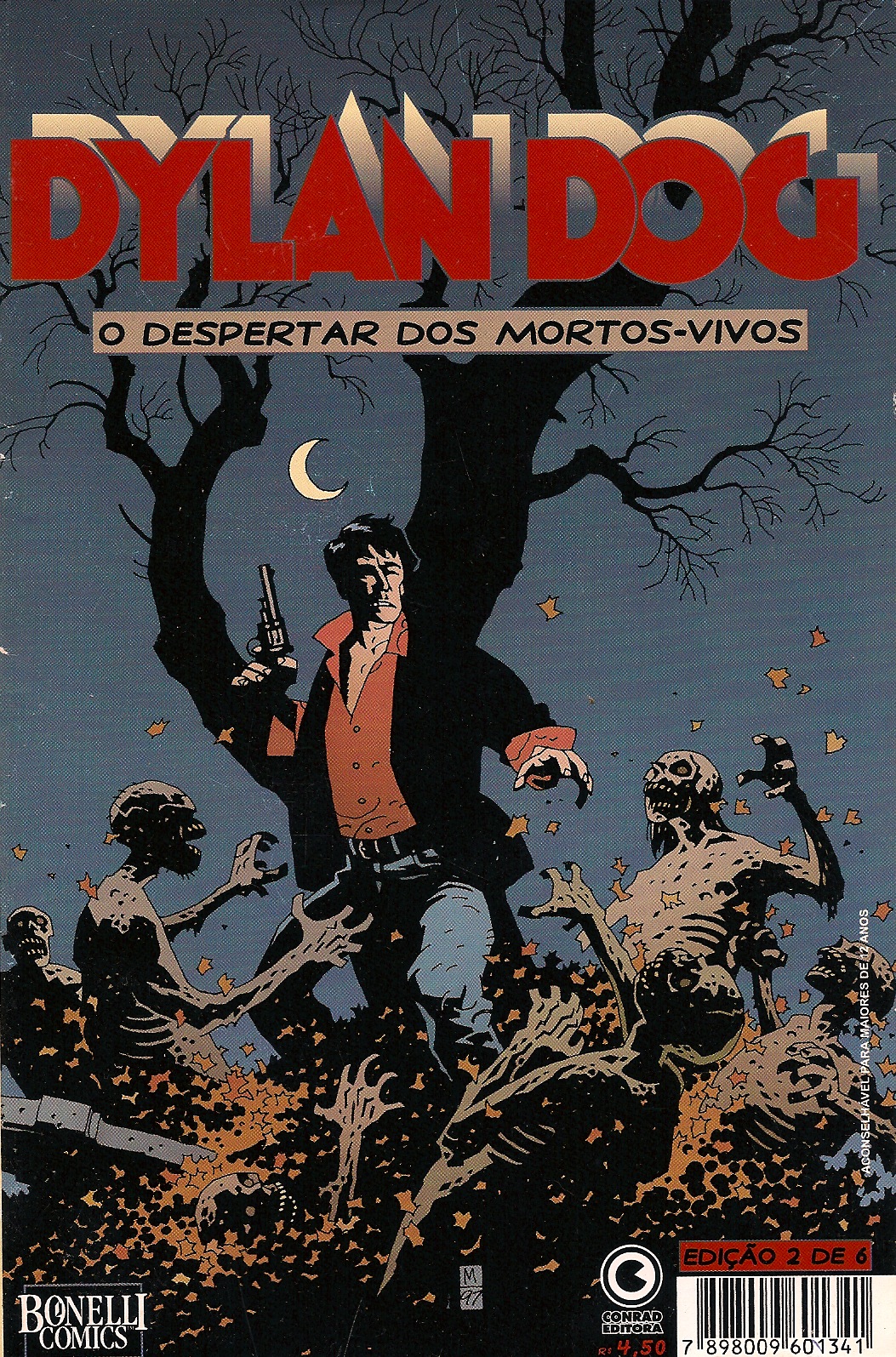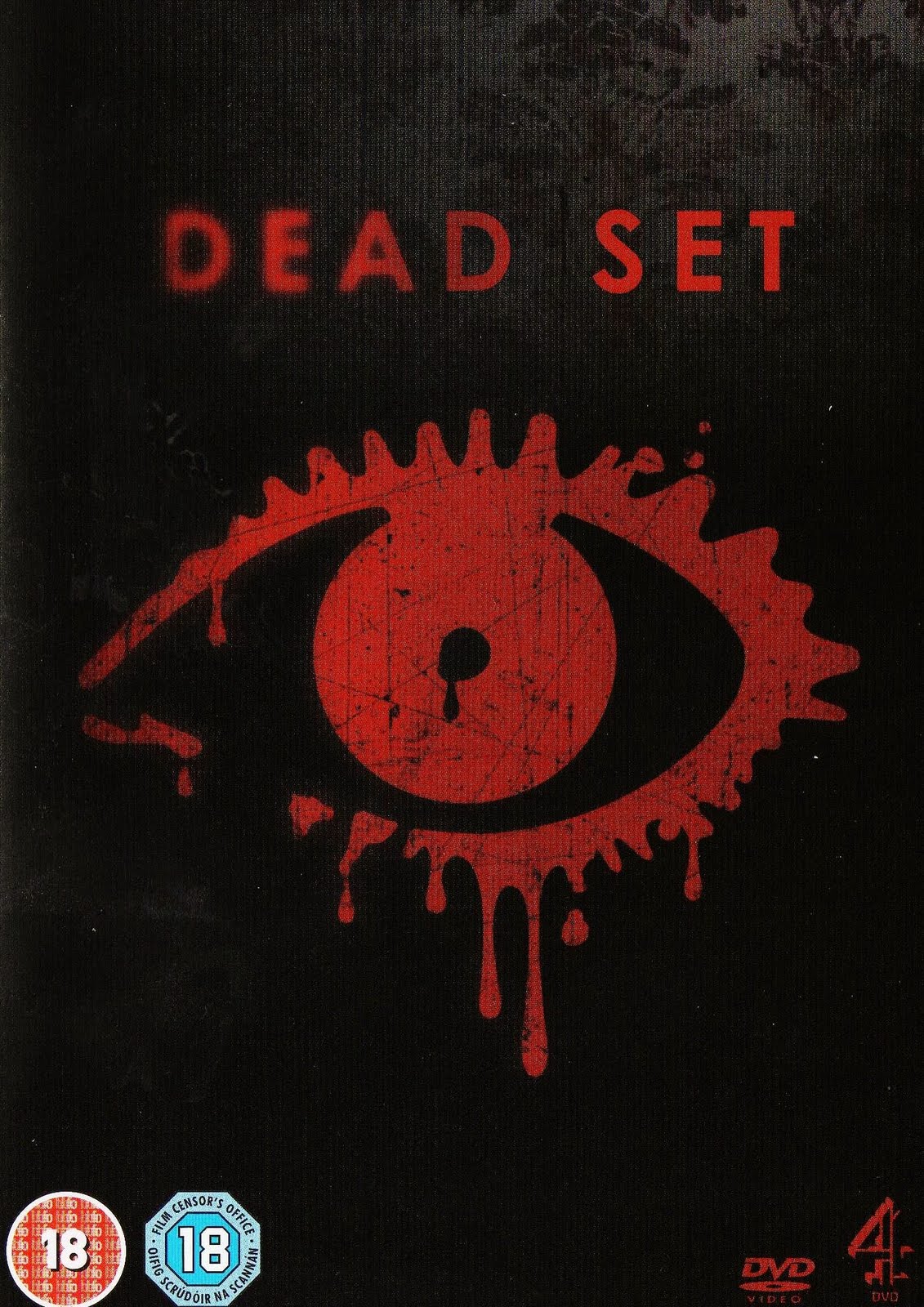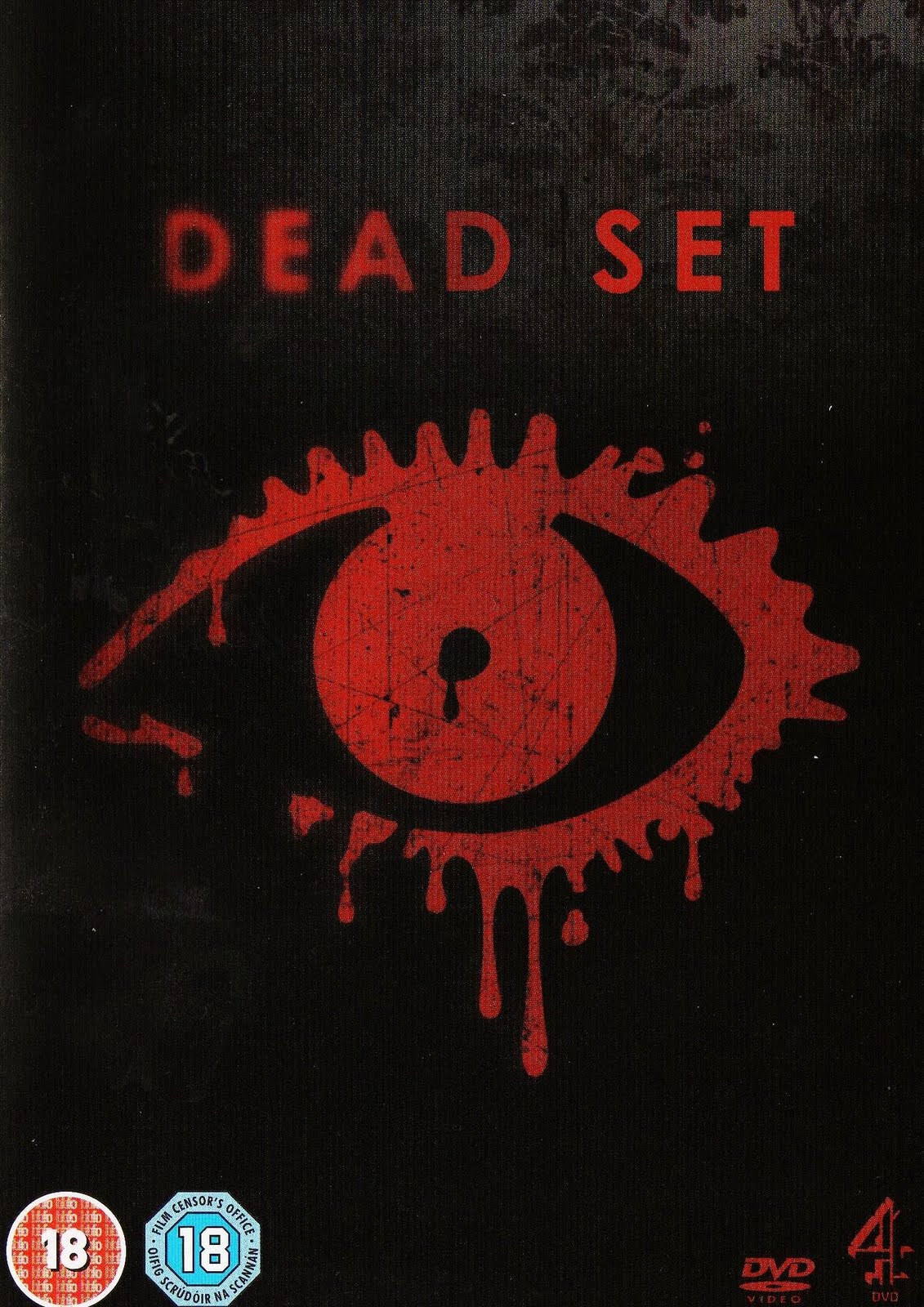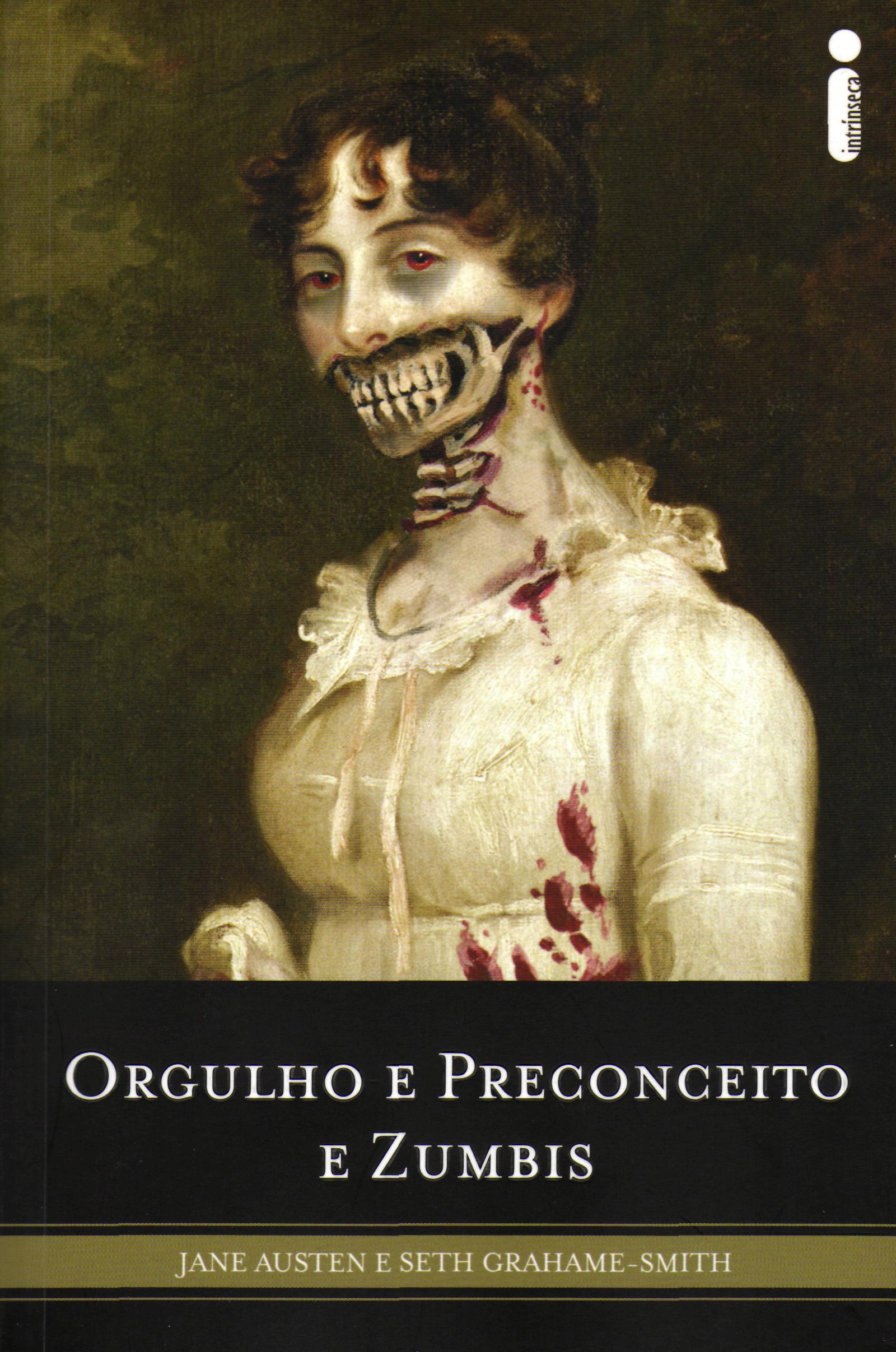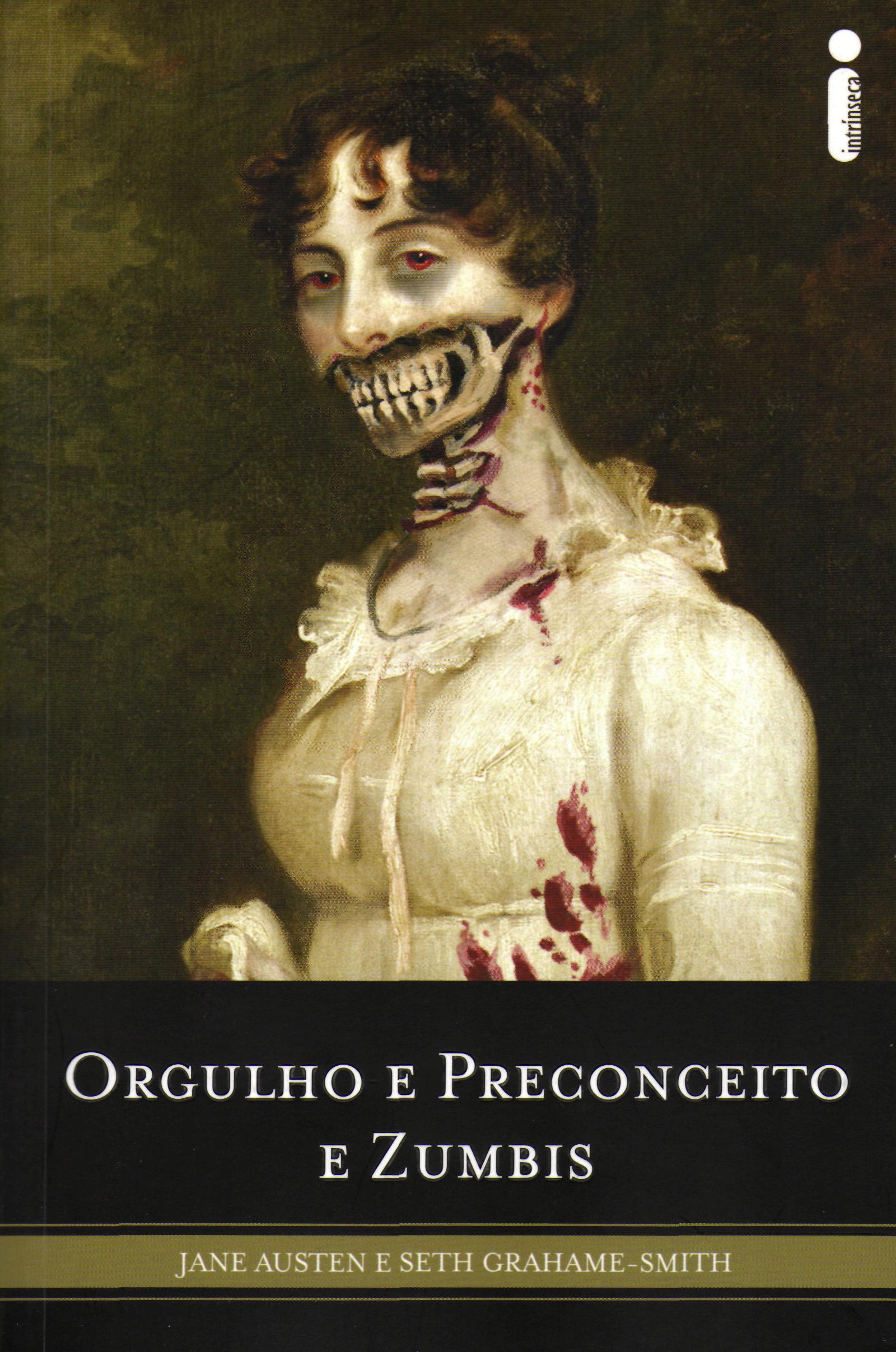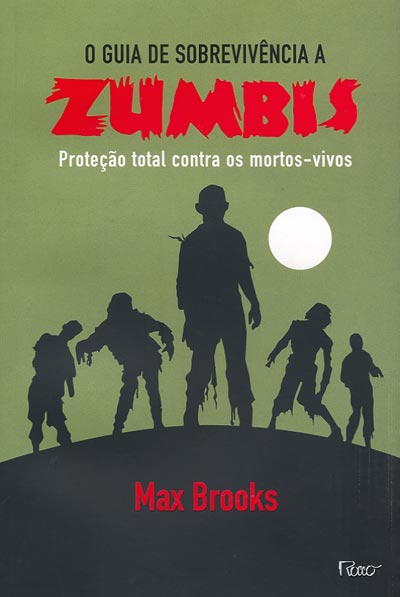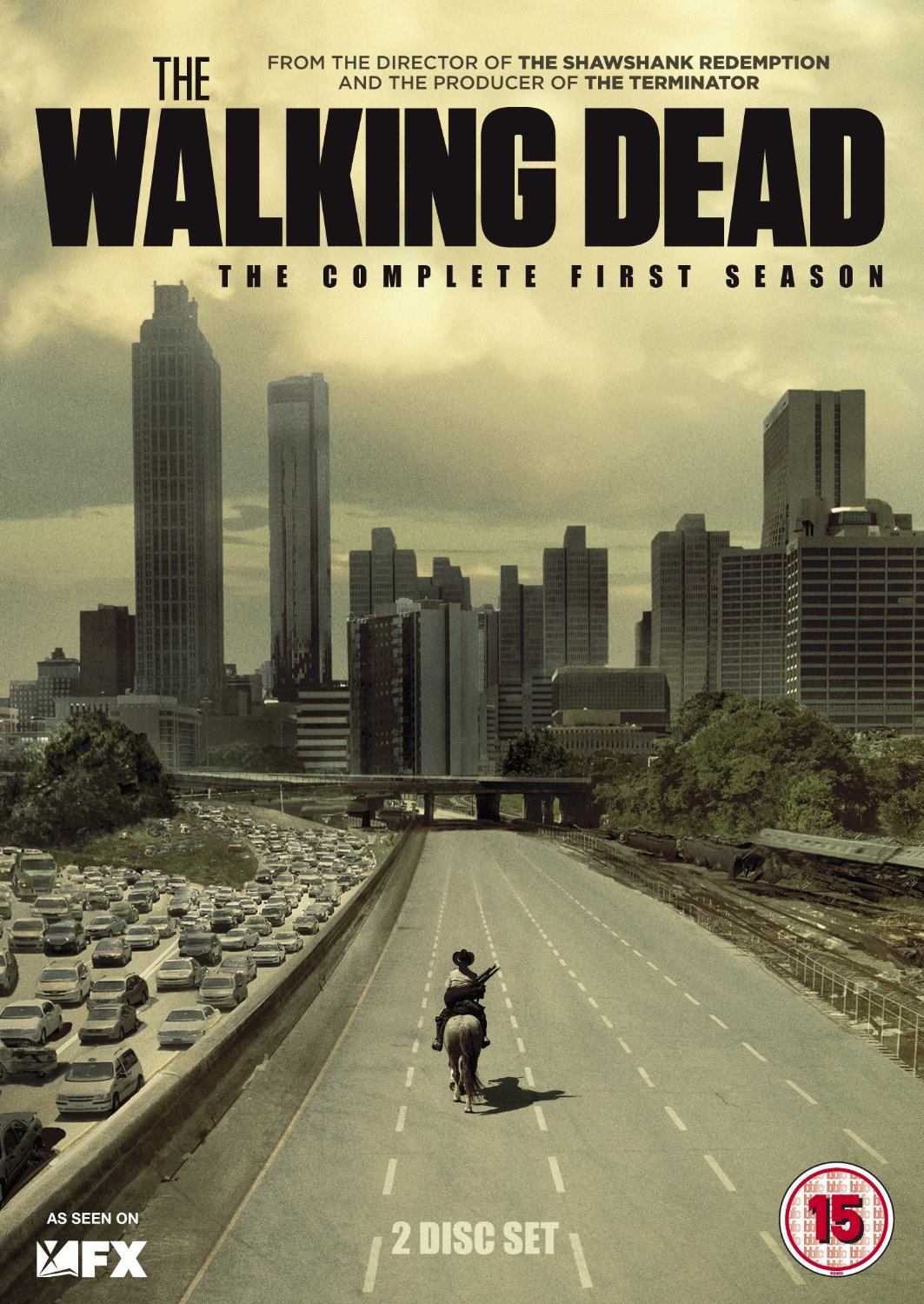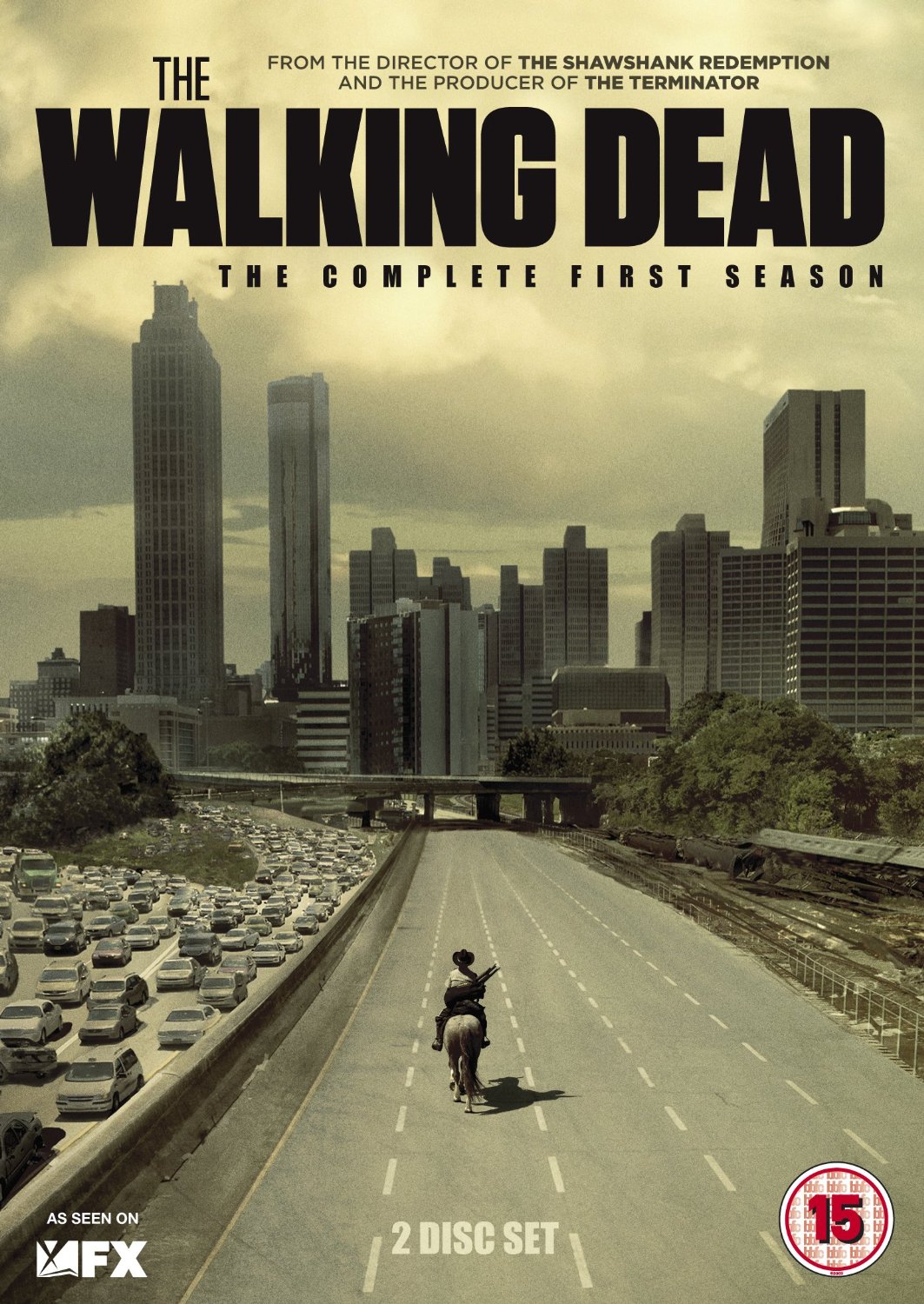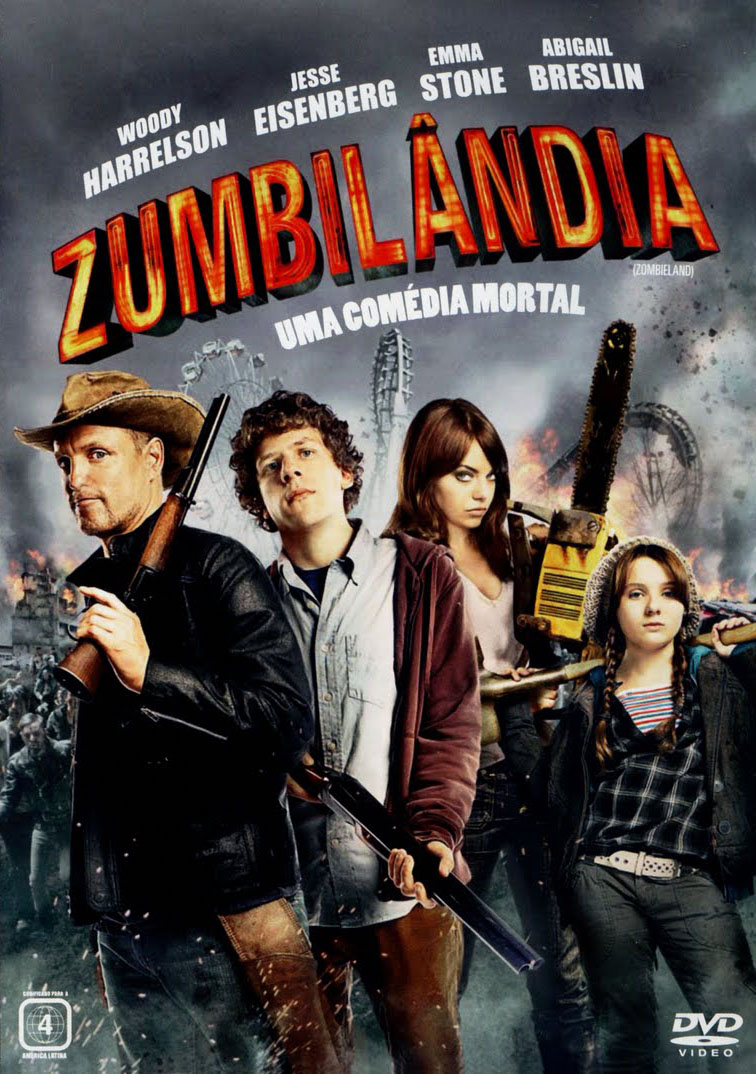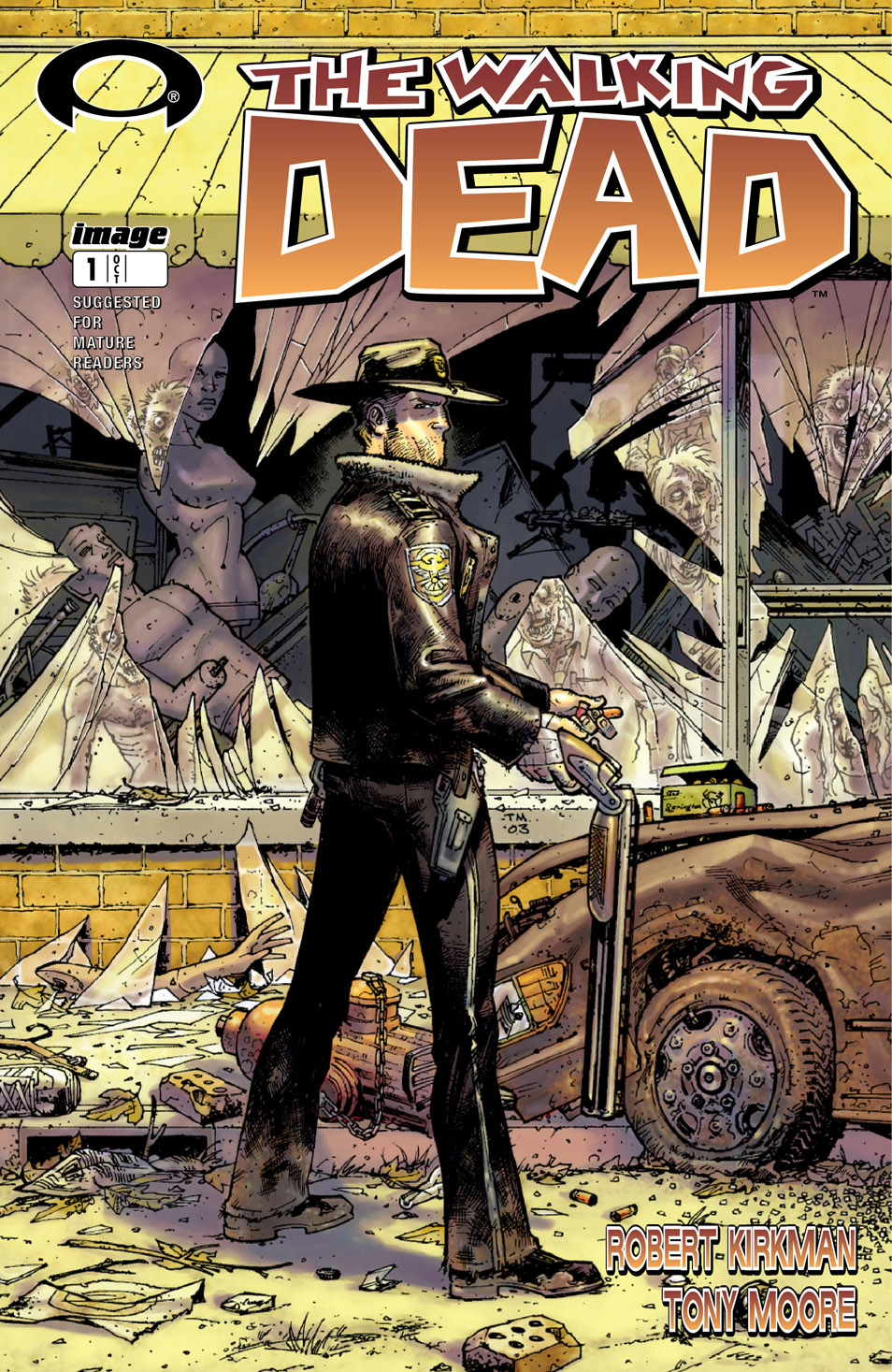Review | In The Flesh
 De certa forma, na contramão do que ficamos habituados a reconhecer como “série de zumbi” – The Walking Dead sendo o exemplo mais recente – , In the flesh deixa de lado a luta pela sobrevivência travada pelos “vivos” e foca a sobrevida dos portadores da “Síndrome de Falecimento Parcial” (Partially Deceased Syndrome – PDS). Por algum motivo desconhecido, os mortos, em 2009, saem de suas covas num evento posteriormente chamado de “A ascensão” (“The rising”). Como quaisquer zumbis que se prezem, saem em busca de humanos vivos para se alimentarem. Enquanto milícias se encarregam de proteger as pessoas, descobre-se que os zumbis sofrem de um distúrbio neurológico que os impede de reproduzir certo tipo de células cerebrais. Descoberto o medicamento que controla essa alteração, os zumbis capturados são medicados, reabilitados e reintroduzidos na sociedade, sendo enviados de volta às suas famílias.
De certa forma, na contramão do que ficamos habituados a reconhecer como “série de zumbi” – The Walking Dead sendo o exemplo mais recente – , In the flesh deixa de lado a luta pela sobrevivência travada pelos “vivos” e foca a sobrevida dos portadores da “Síndrome de Falecimento Parcial” (Partially Deceased Syndrome – PDS). Por algum motivo desconhecido, os mortos, em 2009, saem de suas covas num evento posteriormente chamado de “A ascensão” (“The rising”). Como quaisquer zumbis que se prezem, saem em busca de humanos vivos para se alimentarem. Enquanto milícias se encarregam de proteger as pessoas, descobre-se que os zumbis sofrem de um distúrbio neurológico que os impede de reproduzir certo tipo de células cerebrais. Descoberto o medicamento que controla essa alteração, os zumbis capturados são medicados, reabilitados e reintroduzidos na sociedade, sendo enviados de volta às suas famílias.
Com roteiro de Dominic Mitchell e direção de Johnny Campbell, a série acompanha Kieren Walker (Luke Newberry), um adolescente parcialmente falecido, em seu retorno à casa dos pais, em Roarton. Vemos o constrangimento entre eles, sem saber exatamente como agir – principalmente os pais, Sue and Steve Walker (Marie Critchley e Steve Cooper), oscilando entre a alegria de ter o filho de volta e o receio devido à sua condição. E vemos o estranhamento deles com sua aparência – os zumbis são instruídos a usarem lentes de contato e maquiagem para ficarem mais parecidos com os vivos. E conhecemos Jem Walker (Harriet Cains), irmã de Kieren, que, membro da milícia local, não faz qualquer esforço para esconder seu asco e sua desaprovação pelo retorno do irmão.
É interessante perceber como reações semelhantes em relação aos zumbis são retratadas de formas quase opostas pela família de Kieren e de Bill Macy (Steve Evets), o comandante da milícia. Se, por um lado, os Walker se esforçam por reintroduzir Kieren no cotidiano da família, tentando encará-lo como o portador de uma doença e não como um monstro em potencial, Bill, ferrenho defensor da cidade contra os “rotters”, cujo filho retorna ao mesmo estado que Kieren, apenas vê defeitos e ameaças nos outros, preferindo agir como se nada tivesse acontecido. É agoniante a forma como ele se autoengana sobre a condição do filho. E, por seu status na cidade, ninguém se atreve a contradizê-lo – qualquer semalhança com “A roupa nova do rei” (não) é mera coincidência.
É óbvio que, apesar de toda a qualidade do roteiro, a primeira temporada não está isenta de alguns defeitos e furos. Mas nada que atrapalhe a imersão no universo da história. Possivelmente, o que mais incomoda o espectador são alguns fatos “jogados” na história sem conexão aparente com nada, como o “esquecimento azul” ou a seita de zumbis. Mas principalmente incomoda o fato de a personagem Amy Dyer (Emily Bevan) entrar sem mais nem menos na vida de Kieren – e também sair dela sem muitas explicações. O que se salva é que a personagem é cativante, apesar de aparentemente não ter razão de estar ali. E, depois de Newberry, Bevan é a melhor performance da série.
À semelhança de Sherlock e Black Mirror, a primeira temporada tem três episódios com duração aproximada de uma hora cada um. E, assim como nas duas séries citadas, essa opção garantiu a ótima qualidade da temporada, agarrando o leitor desde a sequência inicial e mantendo-o preso à história até a cena final. Pena que não mantiveram essa escolha na segunda temporada, com seis episódios. A qualidade do roteiro decaiu e há várias inconsistências em relação à primeira temporada.
Tem-se a impressão de que a série havia sido “pensada” apenas para uma temporada e, devido ao sucesso, uma segunda foi logo engatada já sem tanta preocupação com a qualidade nos detalhes. Além disso, os questionamentos sobre preconceito, minorias, (in)tolerância foram reduzidos a uma “caça às bruxas”, que inclui tolhimento da liberdade de ir e vir, além de trabalho compulsório – para não dizer forçado. E essa alteração de abordagem fica personificada em uma parlamentar desconhecida que aparece em Roarton sem ter sido chamada e se arvora como a autoridade máxima da cidade. Por outro lado, a motivação dos portadores passa a ter um enfoque bíblico, com ares de profecia, ao buscarem “O primeiro” para darem início à Segunda Ascensão. Em alguns momentos, nem parece a mesma série, tamanha a falta de coerência de alguns personagens.
Mas nem tudo são defeitos na segunda temporada. Vale destacar o enfoque dado à autoaceitação. À importância de as pessoas se aceitarem como são, para então estarem em condições de cobrar a aceitação dos outros. Simon (Emmett J. Scanlan), mentor de Amy e chamado por ela de “o profeta”, é o catalisador dessa reação nos portadores de Roarton. Outro ponto a ser destacado é o arco dramático de Philip (Stephen Thompson). Muito interessante acompanhar o amadurecimento do personagem, que deixa de ser capacho do vigário e se revela um rapaz íntegro, com hombridade suficiente para assumir sua paixão por Amy em meio à repugnância (quase) generalizada pelos zumbis.
A série é sobre zumbis, mas poderia ser sobre qualquer minoria que já foi oprimida e rechaçada na história da humanidade. Como qualquer minoria, os portadores de PDS são vítimas de preconceito e perseguição. Os habitantes de Roarton abominam os zumbis e não querem saber de sua reintegração à sociedade, mesmo que o governo assegure que a medicação evite que eles voltem a seu estado “rabbid” (raivoso). A forma com que os portadores são tratados faz lembrar bastante os primeiros anos da descoberta da AIDS, um misto de temor e intolerância.
–
Texto de autoria de Cristine Tellier.