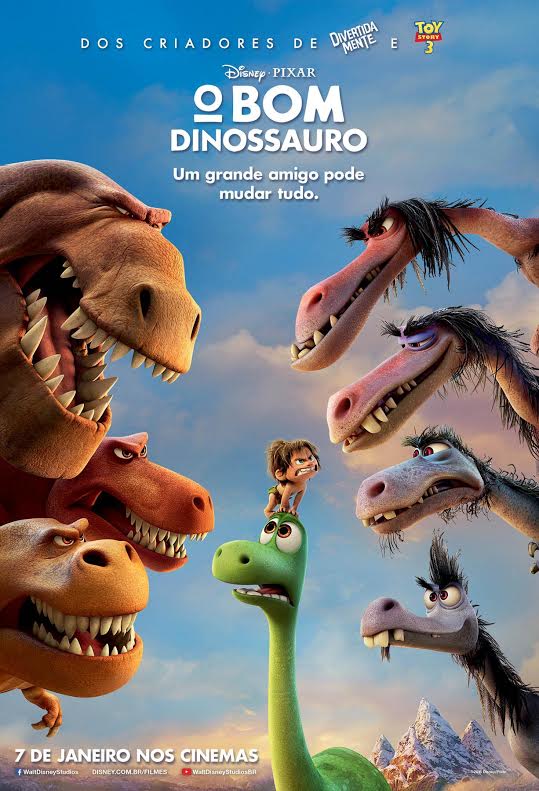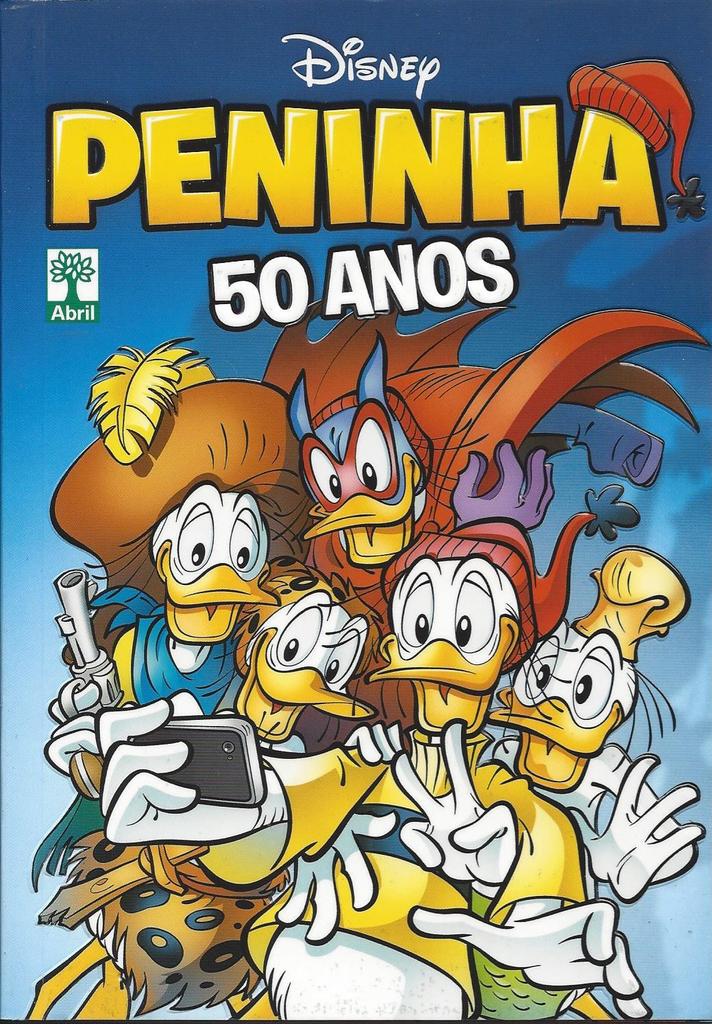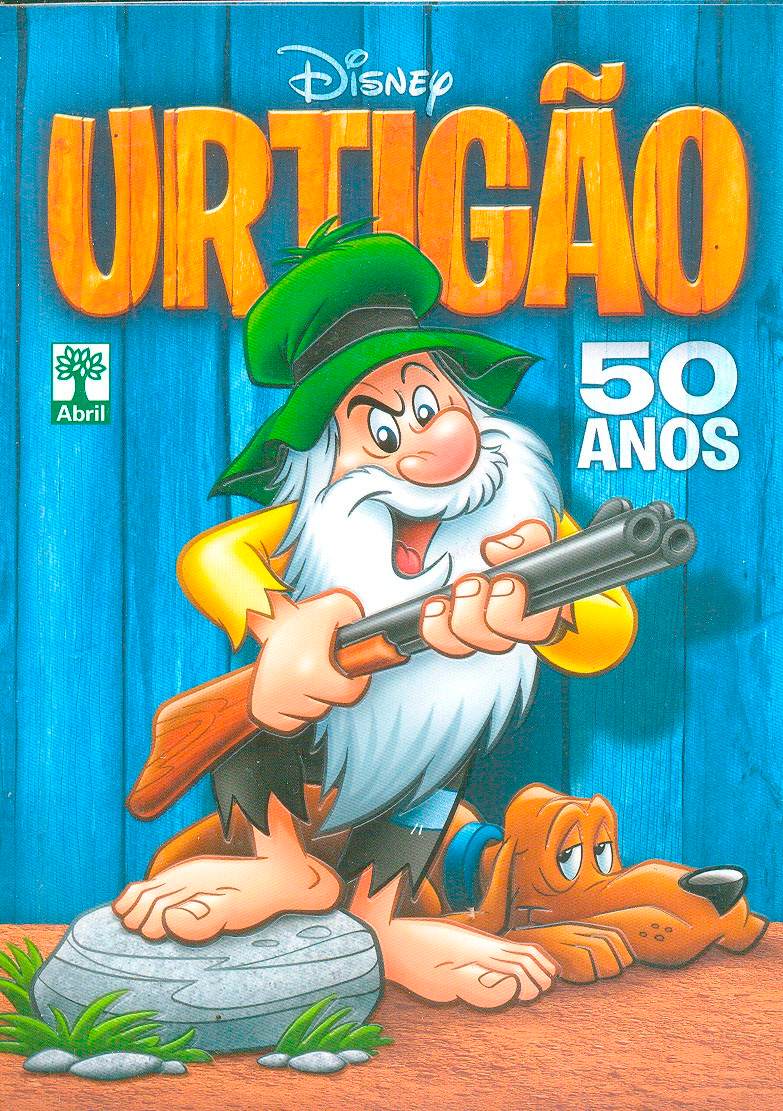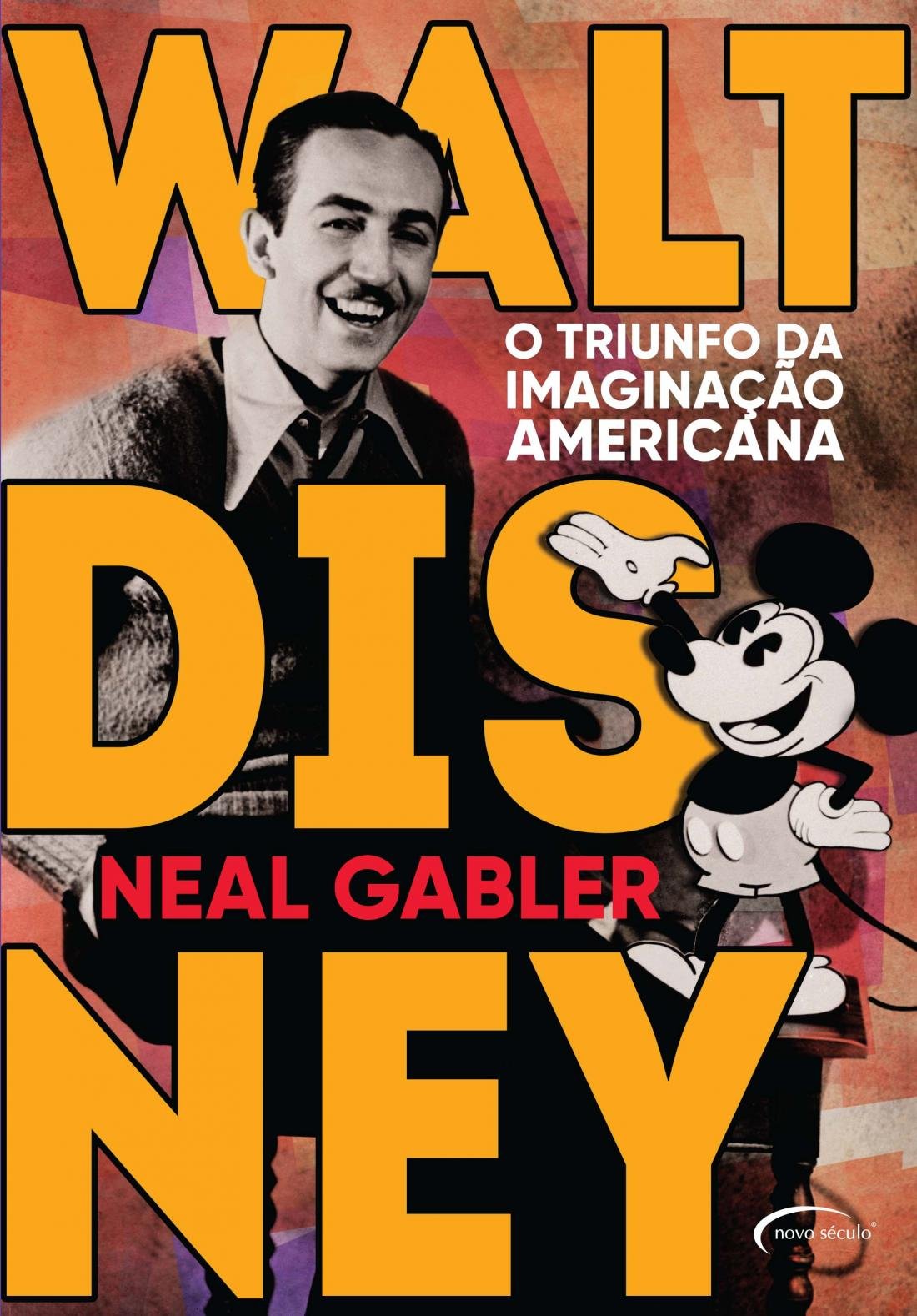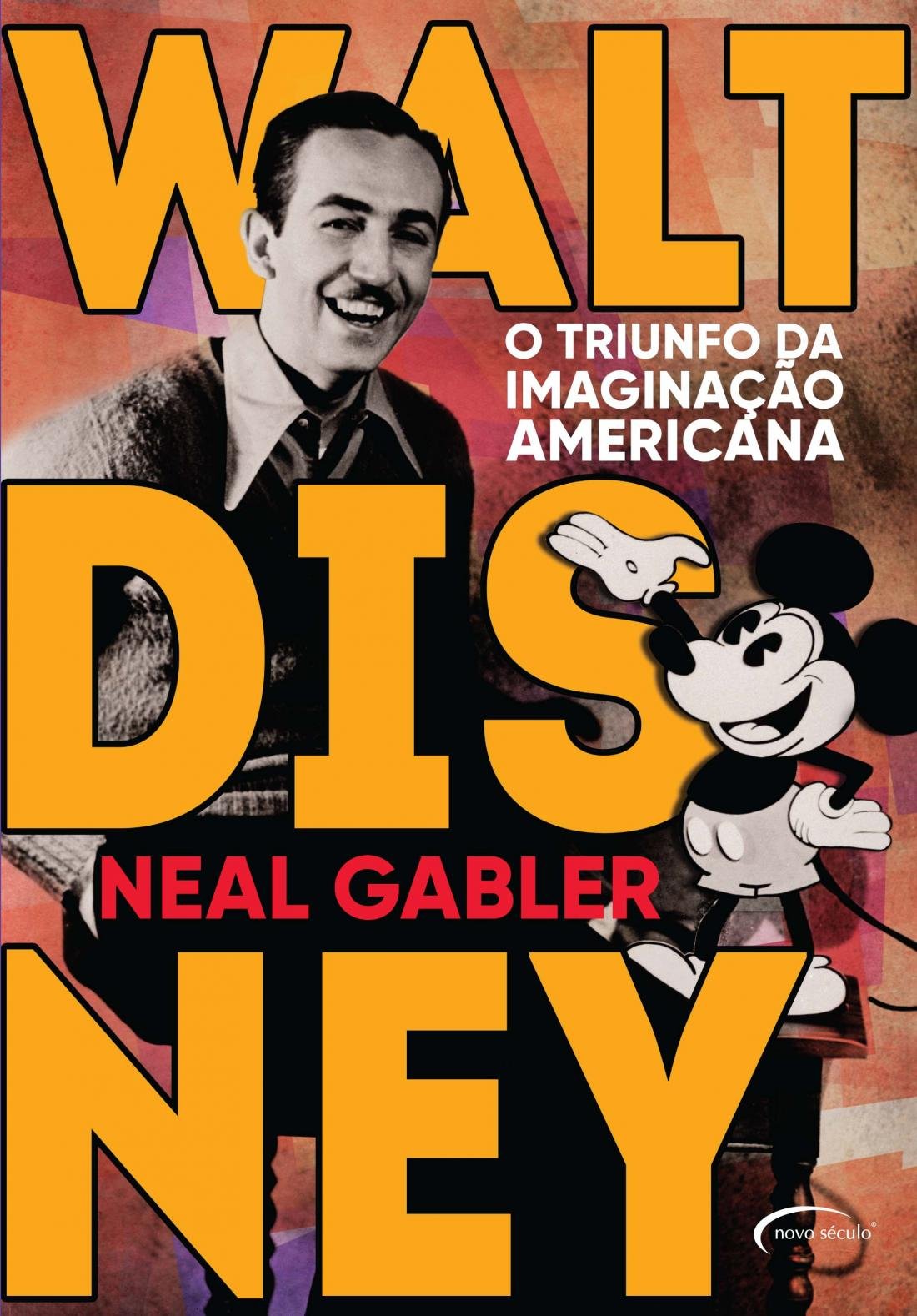E se o Cinema Desprezasse Super-Heróis?
“Não há espaço para super-heróis, nunca houve. Filmes baseados em HQ’s sempre foram um problema pra indústria. Tipos como Superman, Homem-Aranha, Flash e os X-Men simplesmente não conseguem respirar fora dos quadrinhos – imaginem um filme sobre Os Vingadores, com heróis e mais heróis pipocando na tela; impossível. A plateia iria recusar salvadores criados para crianças, principalmente por se sentir inferiorizada diante de outros tão poderosos. Não iria ter identificação com o mundo real, não como acontece nas revistas. Aliás, não há como convencer as pessoas a pagar pra ver um bando de adultos vestindo uniformes e lutando contra o crime, certo? Rapidamente essa fórmula iria se esgotar, o encanto teria prazo para acabar, e, antes de encontrar o fim, é melhor que essa mania de adaptar tudo nem comece! Já bastam os filmes do Superman que, de bom mesmo, só os dois primeiros e o Batman, do Tim Burton. Chega! Quem precisa de super-heróis fora do gibi?”
Hollywood, e mais do que nunca. A indústria está carente, feito um solteirão trancado num apartamento com dez gatos por uma semana, ou até mais que isso. As grandes ideias ou simplesmente caíram da ampulheta, ou estão sendo poupadas há décadas nas gavetas dos poderosos produtores da Warner, Fox, Disney e cia., com medo do futuro caso de fato boas ideias sejam coisa do passado, ou se a moda de reciclar tudo em infinitas sequências não colar mais e todo mundo começar a pedir algo diferente de Velozes e Furiosos 98 ou Star Wars – Episódio 50. Uma hora vai cansar, né? Tudo cansa, ou melhor, muita coisa já cansou, tipo Transformers, que número está, 78º filme? Nem Optimus Prime dá conta. Mas se a Sociologia explica tudo (quase tudo), nesse caso nem vamos precisar ir fundo na análise… Não é só o Cinemão, que um dia foi comandado pelos grandes cenários de Victor Fleming e William Wyler, e hoje se nutre pelos efeitos visuais de James Cameron que precisa da Marvel e da DC: A sociedade também.
Precisamos de parâmetros, de espelhos, e precisamos a todo momento. Alguém sem ídolos, como deixa claro O Mestre, de Paul Thomas Anderson, praticamente não existe. Todo mundo precisa de um fôlego, de um “Você me representa!”. Por isso a utopia apresentada no começo, em que os super-heróis jamais seriam aceitos pelo público, é pura mentira, mas se aplica diretamente aos filmes baseados em videogame, os quais, se realmente querem ser aceitos, irão precisar jogar do jeito que Bryan Singer, Sam Raimi e Christopher Nolan fizeram (amém), pavimentando o caminho. Não pode vencê-los? Junte-se ao modo Marvel-DC de fazer as coisas (editoras que hoje estão na Disney, Fox e Warner, e o resto que corra atrás de livros famosos, rápido!). Ainda na exibição de Batman vs Superman, ou em Capitão América: Guerra Civil, é nítido o prazer de assistir a pessoas iguais a nós salvando o mundo. Fazendo a diferença! Nos dá quase um gosto de missão cumprida, não é? Isso não cansa nunca, ou pelo menos demora pra gente dar um O.K., e procurar algo melhor para fazer, para assumirmos que vale a pena.
Beleza, mas E SE, brincando no universo paralelo das conjecturas, aquele cenário (apocalíptico) fosse uma realidade, tal qual a situação ainda indecisa e inexpressiva dos filmes de videogame, e o primeiro X-Men, dos anos 2000, ou o Homem-Aranha de 2002 e Batman Begins de 2005 tivessem sido enormes fracassos, e ninguém ousasse mais vestir um ator com capa na Comic-Con de San Diego?! Nesse caso, então, a indagação suprema seria outra: como estaria o Cinemão americano, todo lindo e divertido, em 2016, se a gente nunca tivesse chamado a galera pra assistir a quadrinhos numa tela gigante? Muito doente, obrigado.
Mas calma, estaria vivo SIM, com roteiristas a preço de ouro. Mas seria um sobrevivente como sempre foi, desde muito antes de Spielberg mostrar aos poderosos que dá pra fazer MUITA grana fazendo as pessoas se divertirem, e não apenas se emocionarem como ficou provado com … E O Vento Levou, a maior bilheteria da história levando-se em conta a inflação (três bilhões e meio de dólares, quer mais?). Como imaginar numa situação saudável, tranquila e good vibes, dependendo de franquias como 007, Piratas do Caribe e Avatar, uma indústria com a Marvel faturando 10 bilhões em uma década, e um personagem sozinho feito Batman com mais de quatro bilhões em caixa, com apenas oito filmes? Seria a mesma coisa de tirar o Chaves do SBT, resumindo. Hollywood viciou e nos fez viciar mais ainda nessa gente que voa, é diferentona e solta raios (foi a melhor coisa a fazer), e que essa fonte dure bastante, caso contrário…
Movimentos em forma de filme, como Avatar (O 3D duplica o valor do ingresso, o mercado está salvo de novo), Central do Brasil (num país pós-retomada do cinema nacional) e Pulp Fiction (ensinando Hollywood que “somos pobres mas somos limpinhos”) tiveram uma importância tão grande para o Cinema que, apagando-os da história recente ou da antiga da arte, iríamos sentir em demasia os efeitos de uma utopia positiva agindo sobre nós; no cenário das hipóteses, tudo pode acontecer. E fica fácil prever uma hipótese dessas se julgarmos o impacto na cultura pop caso George Lucas nunca tivesse criado Star Wars, em 1977. Se a saga dos sabres de luz resumiu uma geração (e levou a veneração à cultura pop, mundo afora, calcando bases sólidas no mercado do entretenimento em massa), sua inexistência deixaria Hollywood órfã de representação e adoração a longo prazo, inclusive na memória de todos nós, já que é isso o que realmente importa no jogo. Mais do que isso: Muito da identidade de uma época nunca teria existido, como aconteceria se o cinema não curtisse o Deadpool.
Sem a Marvel e DC na jogada, o jeito da cultura pop no Cinema seria apelar para franquias melhores que os tapa-buracos de hoje em dia (Divergente, Maze Runner, Jogos Vorazes, etc), desenvolvendo a qualidade de produtos de um jeito muito mais profundo e menos descartável do que atualmente faz, o que, dada a quantidade de estreias a cada semana, torna-se impossível de realizar em grande escala. A esperança é a última que morre, e sem heróis para fazer o povo continuar saindo da Netflix e indo ao Cinema, talvez teríamos até mais sequências que já temos (“Alice – A Vingança do Chapeleiro Maluco” poderia estrear semana que vem), além da usual avalanche de remakes que só iriam aumentar, obrigando a molecada a descobrir os filmes originais do passado. Outro “talvez” cabível seria o reinado, FINALMENTE, dos filmes de videogame, com ‘Diablo – Parte 4’ estreando em julho. Por que não? Tudo seria possível se a Marvel não reinasse, soberana, e se a DC não tivesse no comando uma ameba chamada Zack Snyder.
Levando o cinema a experimentar novas possibilidades de contar histórias, em 1977, lá em cima no espaço, Lucas passou o bastão para J.J. Abrams porque, agora, tudo parece ter mudado. Com as histórias de Stan Lee e Bob Kane, de 2000 pra cá, o que os super-heróis nos levam a sentir? Poder, auto-engano em massa, um chamado para salvarmos o mundo… O inconsciente e imaginário populares têm um trabalho importante nisso, e num mundo atacado com terrorismo, aquecimento global e o fim da privacidade, numa realidade dessa e cada vez mais cética sobre quem realmente tem poder nesse mundo (Oi, Google), seríamos nós nossos próprios heróis? O que representa a identidade do século 21 se não salvarmos a nossa própria pele? Isso explica porque eles não são suficientes no gibi, porque precisaram ir para a tela grande, e porque seu maior feito é salvar Hollywood. Isso explica muita coisa.